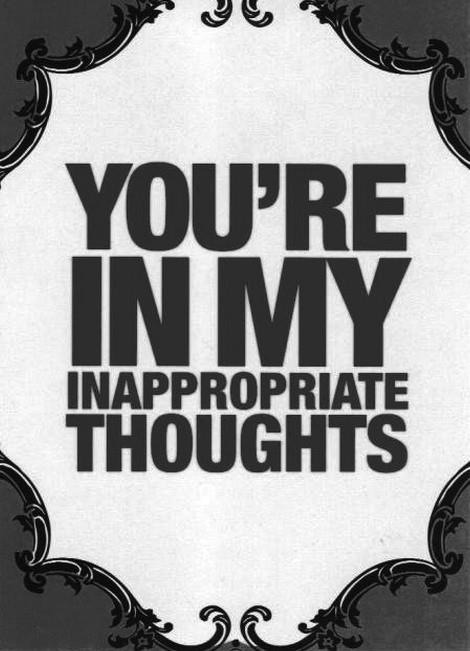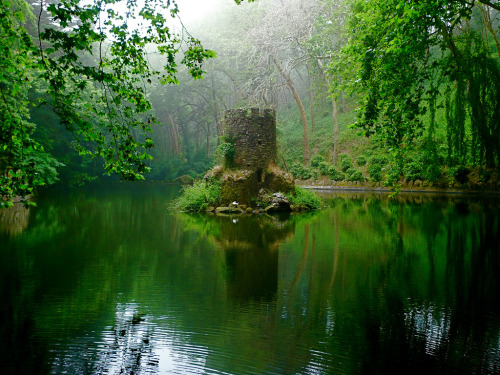Até que enfim, o Bolsa-Cabeça
Gaudêncio Torquato
Ufa! Recado dado, pacote providenciado. O recado: a tolerância chegou ao limite. O copo da velha política transbordou.
Chega de aceitar a banalização do mal, estampada na fila de criminosos sem punição, corrupção desenfreada, promessas não cumpridas, representantes que pouco representam e governantes que não praticam a governança, por agirem apenas como gerentes ou por serem vistos como galhos da árvore patrimonialista.
Velhos presentes continuarão a ser bem aceitos, principalmente aqueles que se destinam a saciar a fome. Exemplo é o Bolsa-Barriga, fruto do programa que abastece o estômago de 40 milhões de pessoas sob o abrigo de 13 milhões de famílias.
A mensagem principal do recado é que o ronco da barriga subiu à cachola, abrindo um ciclo de novas percepções. A sociedade clama, agora, por um Bolsa-Cabeça. Essa é a notícia alvissareira que se extrai da movimentação de massas que sacode o país.
Fica patente que barriga satisfeita pode, até, cooptar a harmonia social e sustar a indignação por um tempo. Não, porém, por todo o tempo. A inteireza do corpo social requer também uma cabeça capaz de racionalizar, avaliar, exigir, cobrar, portanto, pronta para reescrever sua história.
O espetáculo das ruas tem também esse significado. Saciada a fome das margens muito pobres, garantida a inserção de um novo contingente no meio da pirâmide, afloram, agora, as clamadas demandas nas áreas da saúde, educação, transportes públicos e segurança pública. Por que só agora? Se as reivindicações são tão antigas por que deram um susto em gregos e troianos, centrais e suburbanos? Há explicações.
A travessia de uma Nação obedece a um processo que envolve grandes movimentos de massa, com efeitos absorvidos pelas instituições, ou revoluções, que acabam rompendo a velha ordem.
Avanços sem rupturas na fisionomia democrática ocorrem de maneira lenta e gradual, particularmente no seio de democracias consolidadas. Instituições fortes não desmoronam ante os rebuliços da contemporaneidade.
Vejamos o caso brasileiro. Nossa democracia é incipiente. O país dispõe da mais democrática Constituição de sua história, plasmada para acolher uma visão plural da sociedade. Mesmo assim a caminhada brasileira depara-se com muitos desvios.
Há buracos ainda não preenchidos pela legislação infraconstitucional, ensejando situações que empurram a Corte Suprema para a esfera política, conforme se constata pela interpretação que oferece sobre matéria de fundo político. Deriva daí a questão sobre a “judicialização da política”.
Difunde-se a expressão de que as tensões entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, decorrentes de interpenetração de funções, são normais e não ameaçam a normalidade democrática. Seria, até, sinal eloquente da vitalidade de nossa democracia
Não há como negar que a mania de querer esconder o clima tenso faz parte da cultura de contemporização que finca raízes profundas em nossos trópicos. A mania de deixar o dito pelo não dito, de desdizer o que foi dito, de postergar soluções para os problemas, de enfiar a sujeira por baixo do tapete, de não cumprir promessas feitas, toda essa colcha de retalhos mal costurados serve para explicar as manifestações populares.
A esfera política se distanciou das ruas. Se o governo federal não registrou sinais de sismo, é porque entendia que a harmonia social estaria preservada pelos bolsões de “barriga saciada”
A explosão pegou de surpresa governos e representantes, a traduzir insatisfação com o status quo. E, por um desses milagres que parecem confirmar a crença de que Deus é um pouquinho brasileiro, projetos de impacto, mofando há tempos nas gavetas, emergem e entram na planilha das decisões.
Em menos de uma semana, o Brasil dá um salto de modernidade. Nunca em tão pouco tempo as casas congressuais foram tão produtivas. Até a corrupção (quem diria) adentra o território dos crimes hediondos.
O fato é que o país real começa a ser desenhado, mesmo sabendo que há outro, falso, rodeado por castelos de areia. Basta anotar as incongruências.
O orçamento de 2010 e 2011 alocou R$ 12 bilhões para o Ministério dos Transportes, enquanto a peça de 2012 contemplou R$ 14 bilhões, recursos que, aliás, não foram usados na totalidade. Retrato da desorganização. E não é que o presidente da empresa de planejamento e logística, Bernardo Figueiredo, confessa que o nosso déficit em rodovias, portos, ferrovias e afins se aproxima de R$ 600 bilhões?
Afinal, qual é o território real, o do pequeno orçamento ou o do gigantesco déficit?
Dito isto, chegamos ao Bolsa-Cabeça, que está sendo organizado por apressadas providências do Executivo e surpreendentes decisões do Legislativo. Vão arrumar grana para colocar em pé o edifício do Brasil -Verdadeiro? Aprovam royalties do pré-sal para a educação. Bom.
Mas as turbas aguentarão sem reclamar uma espera de 6 a 7 anos, prazo calculado para aquela camada de óleo ser capturada? As marés revoltas puxam outras interrogações: para onde o país deve ou quer chegar? Que políticas públicas se fazem necessárias, desde já, para conter a avalanche social? Qual o modelo de governança eficaz e abrangente, capaz de juntar os conjuntos políticos, as forças produtivas e as organizações sociais no entorno de um grande projeto de Nação?
Se não houver respostas para estas questões, é arriscado garantir que tudo continuará como d’antes no quartel d’Abrantes.
A sociedade organizada tem demonstrado saber usar seus aríetes para furar os bloqueios das fortalezas do poder. O choque do futuro foi anunciado. A névoa moral começa a ser dissipada.
E que não haja dúvidas sobre o florescimento de uma nova ordem, que impactará os sistemas político/governamental, as áreas produtivas, os campos profissionais e os espaços sindicais, entre outros.
Que se apresentem, logo, saídas largas para o clamor das ruas. Sob pena de ouvirmos o cochicho de Hobbes: “quando nada mais se apresenta, o trunfo é paus”.
domingo, 30 de junho de 2013

"Chegou a hora de a presidente Dilma Rousseff experimentar para valer a antipatia que construiu laboriosamente nos últimos dois anos e meio entre deputados e senadores. A queda de 27 pontos em sua popularidade, medida pelo Datafolha, será sentida agora a cada necessidade de negociação."
Fernando Rodrigues - FSP
DOMINIQUEA
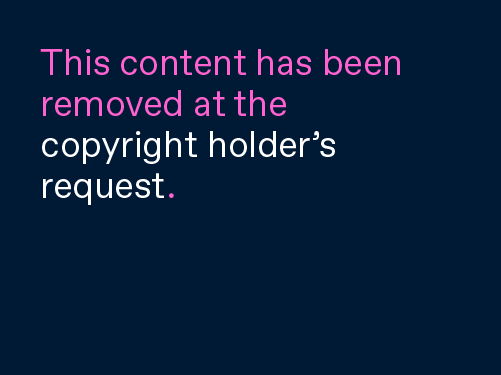
Por que amo sua loucura,
sua desenvoltura, sua falta
de horários e seus atalhos
quando estou quase a ponto
de mergulhar no abismo?
É o ser que há em você. Mas é não só
isso: há muito mais que desejo
de ti e não revelo. É essa luz que carrega
em sua alma.
Eduardo Milán
Trad. Ashe

“No importa que la flecha no alcance el blanco.
Mejor así.
No capturar ninguna presa.
No hacerle daño a nadie,
pues lo importante
es el vuelo, la trayectoria, el impulso
el tramo de aire recorrido en su ascenso
la oscuridad que desaloja al clavarse
vibrante
en la extensión de la nada.”
José Emilio Pacheco
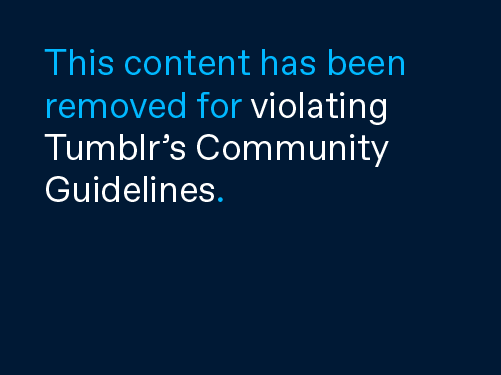
“Pido las cosas que no tengo,
algo que quise y no quería,
un amor vago… Pero pasan
todas las cosas, alma mía,
como las nubes y las rosas
pasan, pasan… Yo no sabía
que allá en tu fondo me brotaba
una tristeza sin medida,
porque las cosas que yo quise
cada mañana son distintas:
nubes y rosas, amor vago,
y esta tristeza que no es mía…”
José Luis Hidalgo´
Bitcoin: melhor que ouro e papel-moeda? (Parte 2)
Fernando Ulrich, - IMB
 Na primeira parte desta série sobre o projeto Bitcoin, descrevemos o nascimento da moeda digital e como ela em nada contraria a teoria da regressão de Ludwig Von Mises. Vamos agora aprofundar-nos um pouco mais na teoria e na prática procurando comparar o sistema monetário atual — seja ele baseado em papel-moeda, seja baseado em ouro — com um sistema baseado em bitcoins. É preciso ressaltar, sem embargo, que essa comparação se dá no campo conceitual, pois Bitcoin ainda não está no estágio avançado de vasta aceitação. Melhor que ouro e papel-moeda?
Na primeira parte desta série sobre o projeto Bitcoin, descrevemos o nascimento da moeda digital e como ela em nada contraria a teoria da regressão de Ludwig Von Mises. Vamos agora aprofundar-nos um pouco mais na teoria e na prática procurando comparar o sistema monetário atual — seja ele baseado em papel-moeda, seja baseado em ouro — com um sistema baseado em bitcoins. É preciso ressaltar, sem embargo, que essa comparação se dá no campo conceitual, pois Bitcoin ainda não está no estágio avançado de vasta aceitação. Melhor que ouro e papel-moeda?
Pelo bem da argumentação, assumamos que a infraestrutura do Bitcoin, bem como a inelasticidade de sua oferta (lembrem-se do limite de 21 milhões de bitcoins), são invioláveis e não impõem risco algum de fraude, roubo, etc., aos usuários — tratarei desse tema mais adiante.
Somente podemos entender Bitcoin e contestar a crítica de Gertchev utilizando-nos da abordagem austríaca sobre a origem catalática do dinheiro. Em outras palavras, é entendendo que a origem do dinheiro se dá no mercado por meio de trocas voluntárias que podemos compreender a essência do fenômeno Bitcoin. Nesse sentido, se faz necessário destacar que a introdução ou evolução do dinheiro reduz os custos dos intercâmbios. Isto é, ao resolver o problema da dupla coincidência de desejos (tenho uma vaca, quero pão e o padeiro quer um terno), o dinheiro vem a reduzir os custos envolvidos em uma simples troca de produtos. É o que os economistas chamam de "custos de transação". Da mesma forma, em um entorno de competição, preponderará no mercado aquele dinheiro que mais reduz tais custos.
Em sua tese, Surda elenca três elementos principais que influenciam na escolha de uma moeda: liquidez, reserva de valor e custos de transação. No momento, liquidez é a maior desvantagem do Bitcoin em relação às demais moedas, por não ser amplamente utilizado — ainda que cada vez mais pessoas e empresas aceitam transacionar com a moeda.
No quesito reserva de valor, a sua escassez relativa, por sua vez derivada de sua oferta inelástica (atualmente em 11 milhões, com limite máximo de 21 milhões), lhe permite ser considerada uma ótima alternativa na manutenção (e possivelmente elevação) do poder de compra. Ademais, por ser um meio de troca eletrônico, a moeda pode ser preservada indefinidamente — sim, dependemos da internet e da eletricidade.
É na redução dos custos de transação, porém, que entendemos as enormes vantagens e superioridade do Bitcoin. Para começar, não há fronteiras políticas à moeda digital. Você pode enviar e receber bitcoins de qualquer lugar a qualquer pessoa, esteja ela onde estiver, sem ter que ligar ao gerente de banco, assinar qualquer papel, comparecer a alguma agência bancária ou ATM. Nem mesmo precisa usar a VISA, ou um PayPal qualquer. Você pode ter domicílio no Brasil, estar de férias em Xangai e enviar dinheiro a uma empresa na Islândia com a mesma facilidade com que envia um e-mail pelo seu iPhone. Ainda em Xangai, você pode receber em bitcoins o equivalente a quilos de prata (ou ouro, ou milhares de dólares), sem pesar um grama no seu bolso nem mesmo precisar contar as suas cédulas ou pesar o seu metal. Tampouco precisa se preocupar em guardá-lo em algum armazém ou banco. Mais ainda, nem precisa se preocupar se seu banco guardaria de fato 100% do seu dinheiro ou acabaria especulando-o em aventuras privadas.
Dessa forma, e de acordo com Surda, é plenamente possível que, com o passar do tempo, o Bitcoin venha a superar tanto moedas fiduciárias quanto ouro e prata como meio de troca, e finalmente tornar-se dinheiro (meio de troca universalmente aceito). A questão chave será a liquidez, que por sua vez depende da ampliação da aceitação da moeda. "Sem liquidez suficiente, Bitcoin enfrentará obstáculos significantes para evoluir a estágios mais maduros de meios de troca e, finalmente, dinheiro", conclui Surda.
Explicado tudo isso, resta claro que a crítica de Gertchev carece de fundamento. Considerando o atual arranjo monetário de moedas fiduciárias de papel, mais de 90% da massa monetária são meros dígitos eletrônicos no ciberespaço; dígitos estes criados, controlados e monitorados pelo vasto sistema bancário sob a supervisão de um banco central. Dinheiro material ou físico é utilizado apenas em pequenas compras do dia a dia — eu, por exemplo, nem lembro a última compra que fiz usando papel-moeda. O cerne do nosso sistema monetário já é digital.
Sei que Gertchev não julga esse arranjo como desejável, afinal de contas não há lastro algum além dos PhDs que controlam a impressora de dinheiro. Mas mesmo em um sistema monetário lastreado 100% em um dinheiro material ou commodity, como o ouro, não escaparíamos do mundo virtual e eletrônico. Afinal de contas, carregar ouro (ou prata) por todo lugar não é nada eficiente, além de ser altamente perigoso em um país como o Brasil. Dessa forma, embora reconheça o mérito de um sistema monetário baseado no ouro — e efetivamente o considero como superior à desordem atual —, jamais poderíamos prescindir do sistema bancário digital no presente estado da divisão internacional do trabalho.
Mais ainda, Gertchev parece não perceber que não é somente o atual sistema monetário que depende das tecnologias digitais e da internet, mas na verdade toda a economia globalizada e interconectada que conhecemos hoje. Bitcoin nasce nesse entorno, nasce da revolução digital e, certamente, não poderia sobreviver na ausência das tecnologias que hoje dispomos. Tampouco poderia sobreviver a economia mundial, no estágio avançado em que se encontra, na ausência dessas mesmas tecnologias.
E não nos esqueçamos que ouro ou papel-moeda também são formas de dinheiro que dependem de outras tecnologias. Ouro não cai do céu. Você precisa minerá-lo, cunhá-lo e transportá-lo. Quanta tecnologia e capital são necessários para desempenhar essas funções? E o que dizer dos altos custos com fretes e seguros envolvidos na movimentação de ouro de país para país, de continente a continente? Que eu não seja mal compreendido, pois sou a favor do metal precioso, sem dúvida alguma. Mas julgo que a sua grande qualidade como meio de troca jaz na sua escassez relativa, na sua oferta inelástica. Ouro é excelente como reserva de valor, mas sem um sistema eletrônico de pagamentos, o metal seria muito pouco eficiente no quesito "transportabilidade". A grande revolução do Bitcoin é capacidade de replicar a inerente escassez relativa do ouro, mas sem incorporar a grande desvantagem do metal no que tange ao manuseio e transporte, especialmente em longas distâncias.
Outra vantagem sem precedentes reside em uma tecnicalidade, à primeira vista trivial, mas de implicações extraordinárias. Primeiro, você não depende do sistema bancário no mundo dos bitcoins. Você é seu próprio banco. E isso não é tudo. Pela lógica e programação do sistema, é impossível duas pessoas gastarem a mesma moeda digital (double-spending). Isso quer dizer que somente uma pessoa detém o direito de propriedade de uma unidade monetária e somente essa pessoa a controla. E isso ainda não é tudo. No mundo atual de papel-moeda fiduciária, os dígitos da sua conta bancária são substitutos de dinheiro físico. O dinheiro mesmo é o papel-moeda. Ou melhor, uma fração dos seus depósitos é dinheiro físico.
No caso do Bitcoin, a unidade monetária (1 BTC) é o próprio equivalente ao dinheiro físico (no caso, virtual). E é nesse ponto que surge algo de consequências singulares. Substitutos de dinheiro emergem somente quando estes oferecem uma redução nos custos de transação. Isso quer dizer que os substitutos de dinheiro serão demandados quando proporcionarem ao usuário algo que o dinheiro próprio (dinheiro commodity) não é capaz de lhe oferecer. Pela sua natureza e propriedades digitais, os bitcoins já propiciam muitos dos serviços normalmente restritos aos substitutos de dinheiro. Seus custos de transação são suficientemente reduzidos, tornando altamente improvável o surgimento desses substitutos. Certamente, você já compreendeu as implicações. De uma só vez, o Bitcoin não só tem o potencial de tornar o sistema bancário em grande parte irrelevante e obsoleto, como também reduz substancialmente a probabilidade do aparecimento das reservas fracionárias e, portanto, a expansão artificial de crédito, evitando assim a formação de ciclos econômicos.
A grande sacada do Bitcoin, talvez uma de suas maiores vantagens, é que a moeda digital dispensa o middleman, o "terceiro" na transação. É um sistema peer-to-peer (de igual para igual, ou de par a par). Não é necessário confiar em um banco que guardará seu dinheiro. Você tampouco precisa assegurar-se de que uma empresa de liquidação de pagamentos processará corretamente o seu pedido. Acima de tudo, você não precisa rezar para que um banco central não deprecie a moeda. "Um ponto comum nos atributos avançados do Bitcoin é a reduzida necessidade de confiança no fator humano," observa Surda; "a confiança é substituída por comprovação matemática".
Ademais, o caráter dual do método de pagamentos pode ser visto como a combinação das características do dinheiro (commodity) com o sistema de liquidação (serviço). "Enquanto a commodity oferece uma oferta estável e controle físico, o serviço permite baixos custos de transação, serviços de liquidação e registros históricos", conclui Surda; "antes do Bitcoin, essas duas funções estavam separadas". Logicamente, ainda não estamos nesse estágio avançado do Bitcoin, porque sua liquidez ainda é baixa e ainda dependemos bastante das "casas de câmbio" — os pontos de contato entre a rede Bitcoin e o mundo de moedas fiduciárias (abordaremos essa questão nos próximos artigos). Mas o sistema permite que esse ideal seja alcançado.
Por todos esses motivos, pode-se dizer que o Bitcoin é o arranjo monetário que mais se aproxima daquele idealizado pelos economistas da Escola Austríaca. Como muito bem destaca Surda, "É, historicamente, a primeira oportunidade de se atingir a mudança e a manutenção de uma oferta monetária inelástica sem reformas legais e sem precisar endereçar as reservas fracionárias".
Seria o Bitcoin o Santo Graal da ordem monetária? Conceitualmente, a resposta tende a essa direção. Mas não há consenso. No próximo artigo, discutiremos algumas das objeções filosóficas e práticas à moeda digital.
Artigo originalmente publicado em O Ponto Base
Fernando Ulrich, - IMB
 Na primeira parte desta série sobre o projeto Bitcoin, descrevemos o nascimento da moeda digital e como ela em nada contraria a teoria da regressão de Ludwig Von Mises. Vamos agora aprofundar-nos um pouco mais na teoria e na prática procurando comparar o sistema monetário atual — seja ele baseado em papel-moeda, seja baseado em ouro — com um sistema baseado em bitcoins. É preciso ressaltar, sem embargo, que essa comparação se dá no campo conceitual, pois Bitcoin ainda não está no estágio avançado de vasta aceitação. Melhor que ouro e papel-moeda?
Na primeira parte desta série sobre o projeto Bitcoin, descrevemos o nascimento da moeda digital e como ela em nada contraria a teoria da regressão de Ludwig Von Mises. Vamos agora aprofundar-nos um pouco mais na teoria e na prática procurando comparar o sistema monetário atual — seja ele baseado em papel-moeda, seja baseado em ouro — com um sistema baseado em bitcoins. É preciso ressaltar, sem embargo, que essa comparação se dá no campo conceitual, pois Bitcoin ainda não está no estágio avançado de vasta aceitação. Melhor que ouro e papel-moeda? Pelo bem da argumentação, assumamos que a infraestrutura do Bitcoin, bem como a inelasticidade de sua oferta (lembrem-se do limite de 21 milhões de bitcoins), são invioláveis e não impõem risco algum de fraude, roubo, etc., aos usuários — tratarei desse tema mais adiante.
Somente podemos entender Bitcoin e contestar a crítica de Gertchev utilizando-nos da abordagem austríaca sobre a origem catalática do dinheiro. Em outras palavras, é entendendo que a origem do dinheiro se dá no mercado por meio de trocas voluntárias que podemos compreender a essência do fenômeno Bitcoin. Nesse sentido, se faz necessário destacar que a introdução ou evolução do dinheiro reduz os custos dos intercâmbios. Isto é, ao resolver o problema da dupla coincidência de desejos (tenho uma vaca, quero pão e o padeiro quer um terno), o dinheiro vem a reduzir os custos envolvidos em uma simples troca de produtos. É o que os economistas chamam de "custos de transação". Da mesma forma, em um entorno de competição, preponderará no mercado aquele dinheiro que mais reduz tais custos.
Em sua tese, Surda elenca três elementos principais que influenciam na escolha de uma moeda: liquidez, reserva de valor e custos de transação. No momento, liquidez é a maior desvantagem do Bitcoin em relação às demais moedas, por não ser amplamente utilizado — ainda que cada vez mais pessoas e empresas aceitam transacionar com a moeda.
No quesito reserva de valor, a sua escassez relativa, por sua vez derivada de sua oferta inelástica (atualmente em 11 milhões, com limite máximo de 21 milhões), lhe permite ser considerada uma ótima alternativa na manutenção (e possivelmente elevação) do poder de compra. Ademais, por ser um meio de troca eletrônico, a moeda pode ser preservada indefinidamente — sim, dependemos da internet e da eletricidade.
É na redução dos custos de transação, porém, que entendemos as enormes vantagens e superioridade do Bitcoin. Para começar, não há fronteiras políticas à moeda digital. Você pode enviar e receber bitcoins de qualquer lugar a qualquer pessoa, esteja ela onde estiver, sem ter que ligar ao gerente de banco, assinar qualquer papel, comparecer a alguma agência bancária ou ATM. Nem mesmo precisa usar a VISA, ou um PayPal qualquer. Você pode ter domicílio no Brasil, estar de férias em Xangai e enviar dinheiro a uma empresa na Islândia com a mesma facilidade com que envia um e-mail pelo seu iPhone. Ainda em Xangai, você pode receber em bitcoins o equivalente a quilos de prata (ou ouro, ou milhares de dólares), sem pesar um grama no seu bolso nem mesmo precisar contar as suas cédulas ou pesar o seu metal. Tampouco precisa se preocupar em guardá-lo em algum armazém ou banco. Mais ainda, nem precisa se preocupar se seu banco guardaria de fato 100% do seu dinheiro ou acabaria especulando-o em aventuras privadas.
Dessa forma, e de acordo com Surda, é plenamente possível que, com o passar do tempo, o Bitcoin venha a superar tanto moedas fiduciárias quanto ouro e prata como meio de troca, e finalmente tornar-se dinheiro (meio de troca universalmente aceito). A questão chave será a liquidez, que por sua vez depende da ampliação da aceitação da moeda. "Sem liquidez suficiente, Bitcoin enfrentará obstáculos significantes para evoluir a estágios mais maduros de meios de troca e, finalmente, dinheiro", conclui Surda.
Explicado tudo isso, resta claro que a crítica de Gertchev carece de fundamento. Considerando o atual arranjo monetário de moedas fiduciárias de papel, mais de 90% da massa monetária são meros dígitos eletrônicos no ciberespaço; dígitos estes criados, controlados e monitorados pelo vasto sistema bancário sob a supervisão de um banco central. Dinheiro material ou físico é utilizado apenas em pequenas compras do dia a dia — eu, por exemplo, nem lembro a última compra que fiz usando papel-moeda. O cerne do nosso sistema monetário já é digital.
Sei que Gertchev não julga esse arranjo como desejável, afinal de contas não há lastro algum além dos PhDs que controlam a impressora de dinheiro. Mas mesmo em um sistema monetário lastreado 100% em um dinheiro material ou commodity, como o ouro, não escaparíamos do mundo virtual e eletrônico. Afinal de contas, carregar ouro (ou prata) por todo lugar não é nada eficiente, além de ser altamente perigoso em um país como o Brasil. Dessa forma, embora reconheça o mérito de um sistema monetário baseado no ouro — e efetivamente o considero como superior à desordem atual —, jamais poderíamos prescindir do sistema bancário digital no presente estado da divisão internacional do trabalho.
Mais ainda, Gertchev parece não perceber que não é somente o atual sistema monetário que depende das tecnologias digitais e da internet, mas na verdade toda a economia globalizada e interconectada que conhecemos hoje. Bitcoin nasce nesse entorno, nasce da revolução digital e, certamente, não poderia sobreviver na ausência das tecnologias que hoje dispomos. Tampouco poderia sobreviver a economia mundial, no estágio avançado em que se encontra, na ausência dessas mesmas tecnologias.
E não nos esqueçamos que ouro ou papel-moeda também são formas de dinheiro que dependem de outras tecnologias. Ouro não cai do céu. Você precisa minerá-lo, cunhá-lo e transportá-lo. Quanta tecnologia e capital são necessários para desempenhar essas funções? E o que dizer dos altos custos com fretes e seguros envolvidos na movimentação de ouro de país para país, de continente a continente? Que eu não seja mal compreendido, pois sou a favor do metal precioso, sem dúvida alguma. Mas julgo que a sua grande qualidade como meio de troca jaz na sua escassez relativa, na sua oferta inelástica. Ouro é excelente como reserva de valor, mas sem um sistema eletrônico de pagamentos, o metal seria muito pouco eficiente no quesito "transportabilidade". A grande revolução do Bitcoin é capacidade de replicar a inerente escassez relativa do ouro, mas sem incorporar a grande desvantagem do metal no que tange ao manuseio e transporte, especialmente em longas distâncias.
Outra vantagem sem precedentes reside em uma tecnicalidade, à primeira vista trivial, mas de implicações extraordinárias. Primeiro, você não depende do sistema bancário no mundo dos bitcoins. Você é seu próprio banco. E isso não é tudo. Pela lógica e programação do sistema, é impossível duas pessoas gastarem a mesma moeda digital (double-spending). Isso quer dizer que somente uma pessoa detém o direito de propriedade de uma unidade monetária e somente essa pessoa a controla. E isso ainda não é tudo. No mundo atual de papel-moeda fiduciária, os dígitos da sua conta bancária são substitutos de dinheiro físico. O dinheiro mesmo é o papel-moeda. Ou melhor, uma fração dos seus depósitos é dinheiro físico.
No caso do Bitcoin, a unidade monetária (1 BTC) é o próprio equivalente ao dinheiro físico (no caso, virtual). E é nesse ponto que surge algo de consequências singulares. Substitutos de dinheiro emergem somente quando estes oferecem uma redução nos custos de transação. Isso quer dizer que os substitutos de dinheiro serão demandados quando proporcionarem ao usuário algo que o dinheiro próprio (dinheiro commodity) não é capaz de lhe oferecer. Pela sua natureza e propriedades digitais, os bitcoins já propiciam muitos dos serviços normalmente restritos aos substitutos de dinheiro. Seus custos de transação são suficientemente reduzidos, tornando altamente improvável o surgimento desses substitutos. Certamente, você já compreendeu as implicações. De uma só vez, o Bitcoin não só tem o potencial de tornar o sistema bancário em grande parte irrelevante e obsoleto, como também reduz substancialmente a probabilidade do aparecimento das reservas fracionárias e, portanto, a expansão artificial de crédito, evitando assim a formação de ciclos econômicos.
A grande sacada do Bitcoin, talvez uma de suas maiores vantagens, é que a moeda digital dispensa o middleman, o "terceiro" na transação. É um sistema peer-to-peer (de igual para igual, ou de par a par). Não é necessário confiar em um banco que guardará seu dinheiro. Você tampouco precisa assegurar-se de que uma empresa de liquidação de pagamentos processará corretamente o seu pedido. Acima de tudo, você não precisa rezar para que um banco central não deprecie a moeda. "Um ponto comum nos atributos avançados do Bitcoin é a reduzida necessidade de confiança no fator humano," observa Surda; "a confiança é substituída por comprovação matemática".
Ademais, o caráter dual do método de pagamentos pode ser visto como a combinação das características do dinheiro (commodity) com o sistema de liquidação (serviço). "Enquanto a commodity oferece uma oferta estável e controle físico, o serviço permite baixos custos de transação, serviços de liquidação e registros históricos", conclui Surda; "antes do Bitcoin, essas duas funções estavam separadas". Logicamente, ainda não estamos nesse estágio avançado do Bitcoin, porque sua liquidez ainda é baixa e ainda dependemos bastante das "casas de câmbio" — os pontos de contato entre a rede Bitcoin e o mundo de moedas fiduciárias (abordaremos essa questão nos próximos artigos). Mas o sistema permite que esse ideal seja alcançado.
Por todos esses motivos, pode-se dizer que o Bitcoin é o arranjo monetário que mais se aproxima daquele idealizado pelos economistas da Escola Austríaca. Como muito bem destaca Surda, "É, historicamente, a primeira oportunidade de se atingir a mudança e a manutenção de uma oferta monetária inelástica sem reformas legais e sem precisar endereçar as reservas fracionárias".
Seria o Bitcoin o Santo Graal da ordem monetária? Conceitualmente, a resposta tende a essa direção. Mas não há consenso. No próximo artigo, discutiremos algumas das objeções filosóficas e práticas à moeda digital.
Artigo originalmente publicado em O Ponto Base
Fernando Ulrich formado em administração de empresas pela PUC-RS, concluiu em julho de 2010 o programa de mestrado em economia austríaca comandado por Jesús Huerta de Soto em Madri, Espanha. Atualmente trabalha no mercado financeiro. É colunista do site O Ponto Base.
ALEXANDRA/ALEXIA

Julie Strain
Permanece ao meu lado
e seremos serenidade
quando tudo muda
Fique ao meu lado
quando nada existir
e converteremos o vento
em nosso aliado...
Demofobia em marcha
Roberto Romano - OESP
Roberto Romano - OESP
Norberto Bobbio, em artigo muito lúcido, mostra que a democracia surge dos
choques entre a praça e o palácio. Ele cita Guicciardini: "Entre o palácio e a
praça existe uma densa névoa ou um muro tão grande que pouco sabe o povo sobre o
que fazem os governantes e por que o fazem, como se o assunto dos dirigentes
fosse algo feito na Índia". Atualizando a reflexão, Bobbio adianta que ainda não
contamos com uma eficaz sociologia da praça. Manifestações de rua significam a
multidão de pessoas indignadas com os palácios. A praça reúne muitos indivíduos,
a sua forma aberta permite livres discussões. Quem para ela se dirige tem alvo
comum: reivindicar direitos, ouvir líderes. "Na democracia representativa (...)
a praça é a mais visível consequência do direito de reunião ilimitado quanto ao
número de pessoas que possam exercitá-lo juntas e ao mesmo tempo" (Bobbio).
Finaliza o pensador: "Palácio e praça são expressões polêmicas para designar,
respectivamente, governantes e governados, sobretudo o seu relacionamento de
incompreensão recíproca, estranheza, rivalidade, ainda hoje como no trecho de
Guicciardini. (...) Vista do palácio a praça é o lugar da liberdade licenciosa;
visto da praça o palácio é o lugar do poder arbitrário. Se cai a praça, o
palácio também é destinado a cair" (Il Palazzo e la Piazza).
No ofício de analisar as formas de atuação coletiva, leio com frequência políticos, colegas da universidade, estudantes, sindicalistas, profissionais da imprensa. Fiquei preocupado com as visões da praça expressas em várias entrevistas e textos. O foco dado à baderna e ao vandalismo diminuiu muito a percepção do importante fenômeno. Terra onde o Estado domina a sociedade e se põe a serviço de setores diminutos nas políticas públicas, o Brasil demonstra, desde sua origem histórica, a demofobia que preside o absolutismo. A certidão política de batismo vem do século 16, quando a razão de Estado está no auge. Para os governantes e intelectuais que defendem a razão estatal, o mundo divide-se, como expõe Guicciardini, citado por Bobbio, entre quem merece respeito, porque vive nos palácios, e a plebe que habita a praça. Tal assimetria estabelece uma divisão na ordem coletiva (acima os dirigentes, abaixo os "cidadãos comuns"). Ela é a marca dos Estados que ainda não conhecem os efeitos das revoluções democráticas. Neles a multidão dos que pagam impostos obedece sem questionar. E quem controla os impostos manda sem prestar contas. A força democrática de um país é medida pelo vigor, nele, da prática cunhada pelos revolucionários ingleses, a accountability. As revoluções modernas ensinaram aos soberanos lições básicas de responsabilidade.
Os conservadores atacam os "simples cidadãos", neles vendo ameaças ao poder estabelecido. Eles exorcizam o "perigo" representado pela soberania popular. Sempre que o elo político é invocado, do Renascimento ao século 21, o povo, com seus conflitos, é posto fora dos escalões estatais porque, na lição platônica, ele segue o contrário da harmonia. François Hotmann, jurista e autor do tratado intitulado Franco Galia, teme o Her omnes (Senhor Todo Mundo), apelido dado por Lutero à massa. Os documentos gerados na literatura grega ou romana mostram desconfiança no povo. Este, para os latinos, é o "populo exturbato ex profugo", o "vulgus credulum, imprudens vel impudens, stolidum", etc. (Zvi Yavetz: La Plèbe et le Prince). "O povo", diz Etienne de la Boétie, "não tem meios para bem julgar porque é desprovido do que fornece ou confirma o bom juízo, as letras, os discursos e a experiência. Como não pode julgar, ele acredita nos outros. A multidão acredita mais nas pessoas do que nas coisas, ela é persuadida pela autoridade de quem fala, e não pelas razões ditas" (Mémoires touchant l'Édit de Janvier 1562).
Gabriel Naudé, teórico do maquiavelismo que norteia o governo de Mazarino, diz ser preciso cautela com a "fera de múltiplas cabeças, vagabunda, errante, louca, estulta, sem freio, sem espírito nem julgamento. O juízo do povo sempre é tolo e seu intelecto, fraco. A populaça, fera cruel, enfurece e morde com frequência. Ela odeia as coisas presentes, deseja as futuras, celebra as pretéritas, sendo inconstante, sediciosa, briguenta, famélica de boatos, inimiga do repouso e da tranquilidade". A massa, arremata, é "inferior às feras, pior do que as feras e mil vezes mais tola dos que as feras" (Considérations Politiques sur les Coups d'État).
Donoso Cortés, fonte de terríveis governos, não enxerga na pobreza a origem das massas revoltas. A inveja e o desejo de poder atravessam a praça, açulada pelos demagogos: "O germe revolucionário reside nos desejos superexcitados da multidão pelos tribunos que a exploram e beneficiam. 'Sereis como os ricos', vejam aí a fórmula das revoluções socialistas contra as classes médias. 'Sereis como os nobres', vejam aí a fórmula das revoluções das classes médias contra os nobres. 'Sereis como os reis', vejam aí a fórmula das revoluções dos nobres contra os reis". As manifestações que abalam o Brasil seriam expressões do ressentimento invejoso conduzido por ambiciosos e delirantes.
O juízo negativo sobre a praça gerou o Brasil de Vargas, de 1964 e do AI-5. A esquerda clássica ostenta idêntica ojeriza à rua. Basta recordar a doutrina leninista sobre a "consciência vinda de fora". No Partido, máquina feita para derrubar o Estado burguês e construir a ditadura "proletária", intelectuais superiores definiriam o destino das massas. Caso contrário, Sibéria nelas.
É tempo de mudar a visão da praça. É tempo de saudar a democracia, apesar dos seus percalços. É tempo de recusar regimes plebiscitários que reduzem a praça ao monossilábico "sim", ou "não". É tempo de iniciar o diálogo democrático. A etimologia e a semântica proclamam: democracia é poder do povo, não de privilegiados e palacianos operadores do poder estatal. Se cair a praça, ensina Bobbio, tombam os palácios. E o remédio é oferecido por Donoso Cortés: a ditadura.
Roberto Romano, professor de ética e filosofia na Unicamp
No ofício de analisar as formas de atuação coletiva, leio com frequência políticos, colegas da universidade, estudantes, sindicalistas, profissionais da imprensa. Fiquei preocupado com as visões da praça expressas em várias entrevistas e textos. O foco dado à baderna e ao vandalismo diminuiu muito a percepção do importante fenômeno. Terra onde o Estado domina a sociedade e se põe a serviço de setores diminutos nas políticas públicas, o Brasil demonstra, desde sua origem histórica, a demofobia que preside o absolutismo. A certidão política de batismo vem do século 16, quando a razão de Estado está no auge. Para os governantes e intelectuais que defendem a razão estatal, o mundo divide-se, como expõe Guicciardini, citado por Bobbio, entre quem merece respeito, porque vive nos palácios, e a plebe que habita a praça. Tal assimetria estabelece uma divisão na ordem coletiva (acima os dirigentes, abaixo os "cidadãos comuns"). Ela é a marca dos Estados que ainda não conhecem os efeitos das revoluções democráticas. Neles a multidão dos que pagam impostos obedece sem questionar. E quem controla os impostos manda sem prestar contas. A força democrática de um país é medida pelo vigor, nele, da prática cunhada pelos revolucionários ingleses, a accountability. As revoluções modernas ensinaram aos soberanos lições básicas de responsabilidade.
Os conservadores atacam os "simples cidadãos", neles vendo ameaças ao poder estabelecido. Eles exorcizam o "perigo" representado pela soberania popular. Sempre que o elo político é invocado, do Renascimento ao século 21, o povo, com seus conflitos, é posto fora dos escalões estatais porque, na lição platônica, ele segue o contrário da harmonia. François Hotmann, jurista e autor do tratado intitulado Franco Galia, teme o Her omnes (Senhor Todo Mundo), apelido dado por Lutero à massa. Os documentos gerados na literatura grega ou romana mostram desconfiança no povo. Este, para os latinos, é o "populo exturbato ex profugo", o "vulgus credulum, imprudens vel impudens, stolidum", etc. (Zvi Yavetz: La Plèbe et le Prince). "O povo", diz Etienne de la Boétie, "não tem meios para bem julgar porque é desprovido do que fornece ou confirma o bom juízo, as letras, os discursos e a experiência. Como não pode julgar, ele acredita nos outros. A multidão acredita mais nas pessoas do que nas coisas, ela é persuadida pela autoridade de quem fala, e não pelas razões ditas" (Mémoires touchant l'Édit de Janvier 1562).
Gabriel Naudé, teórico do maquiavelismo que norteia o governo de Mazarino, diz ser preciso cautela com a "fera de múltiplas cabeças, vagabunda, errante, louca, estulta, sem freio, sem espírito nem julgamento. O juízo do povo sempre é tolo e seu intelecto, fraco. A populaça, fera cruel, enfurece e morde com frequência. Ela odeia as coisas presentes, deseja as futuras, celebra as pretéritas, sendo inconstante, sediciosa, briguenta, famélica de boatos, inimiga do repouso e da tranquilidade". A massa, arremata, é "inferior às feras, pior do que as feras e mil vezes mais tola dos que as feras" (Considérations Politiques sur les Coups d'État).
Donoso Cortés, fonte de terríveis governos, não enxerga na pobreza a origem das massas revoltas. A inveja e o desejo de poder atravessam a praça, açulada pelos demagogos: "O germe revolucionário reside nos desejos superexcitados da multidão pelos tribunos que a exploram e beneficiam. 'Sereis como os ricos', vejam aí a fórmula das revoluções socialistas contra as classes médias. 'Sereis como os nobres', vejam aí a fórmula das revoluções das classes médias contra os nobres. 'Sereis como os reis', vejam aí a fórmula das revoluções dos nobres contra os reis". As manifestações que abalam o Brasil seriam expressões do ressentimento invejoso conduzido por ambiciosos e delirantes.
O juízo negativo sobre a praça gerou o Brasil de Vargas, de 1964 e do AI-5. A esquerda clássica ostenta idêntica ojeriza à rua. Basta recordar a doutrina leninista sobre a "consciência vinda de fora". No Partido, máquina feita para derrubar o Estado burguês e construir a ditadura "proletária", intelectuais superiores definiriam o destino das massas. Caso contrário, Sibéria nelas.
É tempo de mudar a visão da praça. É tempo de saudar a democracia, apesar dos seus percalços. É tempo de recusar regimes plebiscitários que reduzem a praça ao monossilábico "sim", ou "não". É tempo de iniciar o diálogo democrático. A etimologia e a semântica proclamam: democracia é poder do povo, não de privilegiados e palacianos operadores do poder estatal. Se cair a praça, ensina Bobbio, tombam os palácios. E o remédio é oferecido por Donoso Cortés: a ditadura.
Roberto Romano, professor de ética e filosofia na Unicamp
Uma oportunidade rara
O Estado de S.Paulo
O Estado de S.Paulo
Três decisões tomadas pelo prefeito Fernando Haddad - como resposta às
manifestações, que já o haviam levado a cancelar o aumento das passagens - criam
condições para, em princípio, ao mesmo tempo lançar luz sobre o funcionamento do
nebuloso serviço de ônibus da capital e, com base nisso, apontar em seguida as
medidas a serem tomadas para melhorá-lo. "Em princípio", porque toda prudência é
pouca no trato desse problema. Ele envolve poderosos interesses diante dos quais
recuaram todos os prefeitos que nas últimas décadas tentaram resolvê-lo.
Haddad cancelou a licitação para a renovação, em novas bases e por 15 anos, dos contratos de concessão do serviço, que venceu dia 17; anunciou a criação de um Conselho Municipal de Transportes, que deverá discutir o modelo de transporte público da cidade e será integrado por representantes da Prefeitura, dos usuários, dos empresários do setor, do Tribunal de Contas do Município e do Ministério Público; e orientou seu partido, o PT, a pedir a criação de uma CPI na Câmara Municipal para investigar os custos e o funcionamento do serviço de ônibus, evitando que vingasse solicitação semelhante feita pela oposição.
O objetivo, segundo o prefeito, é tornar transparente o processo de renovação dos contratos. "Se há dúvida das ruas sobre o assunto, nossa obrigação é dirimi-las", afirmou em entrevista ao Estado, para que a solução a que se chegar "dê segurança para o investidor e para a população de que a remuneração é justa e o preço é justo". Pôr tudo em pratos limpos, abrir a caixa-preta do serviço de ônibus da capital, mostrando quais são exatamente os custos e ganhos das empresas que dominam o setor, é uma velha aspiração da população, que paga por ele de duas formas - diretamente por meio das passagens dos usuários e indiretamente por meio dos subsídios, que vêm do dinheiro de seus impostos. É preciso saber como e por que se paga caro por um serviço notoriamente ruim.
Os novos contratos que resultariam da licitação cancelada continham alguns avanços com relação aos atuais, como uma mudança na fórmula de remuneração das empresas. Em vez de ter como base só o número de passageiros, como acontece hoje - o que leva à superlotação dos ônibus como forma de aumentar os ganhos -, a fórmula proposta dava grande peso também ao número de viagens realizadas. As empresas estavam, é claro, descontentes com medidas como essa, que reduziriam seus ganhos - embora nem por isso eles fossem deixar de ser importantes - para aumentar o conforto dos passageiros.
É nessa direção que - espera-se - a Prefeitura continue a caminhar. Outra medida importante, na qual os especialistas insistem há muito tempo, é a reorganização das linhas, a ser feita de acordo com as necessidades da população e não os interesses das empresas.
Essa não é uma tarefa fácil. As empresas estão contentes com a situação atual. Elas formam um cartel, que até agora impediu a entrada de concorrentes, como reconhece o deputado Carlos Zarattini (PT-SP). No governo Marta Suplicy, quando foram assinados os atuais contratos, ele era secretário de Transportes e propôs um bom modelo para o serviço de ônibus, elogiado pelos especialistas, que infelizmente não foi implementado. A seu ver, o cartel deve ser quebrado com a estatização do transporte. Se isso não for possível, deve-se mudar a forma de remuneração das empresas.
Para tornar realidade qualquer uma dessas hipóteses - às quais se deve acrescentar a da quebra do cartel por meio da contratação, sempre possível, de empresas de fora -, será necessária uma alta dose de coragem e determinação do prefeito, porque essa, como se diz, é briga de gente grande.
Mas Haddad reúne hoje condições propícias para fazer isso. Se a CPI não for usada politicamente e se o Conselho funcionar como deve, poderá se abrir a caixa-preta dos ônibus e isso fará o prefeito marcar pontos ante a opinião pública, tão sensível a essa questão. Saberá ele aproveitar essa oportunidade?
Haddad cancelou a licitação para a renovação, em novas bases e por 15 anos, dos contratos de concessão do serviço, que venceu dia 17; anunciou a criação de um Conselho Municipal de Transportes, que deverá discutir o modelo de transporte público da cidade e será integrado por representantes da Prefeitura, dos usuários, dos empresários do setor, do Tribunal de Contas do Município e do Ministério Público; e orientou seu partido, o PT, a pedir a criação de uma CPI na Câmara Municipal para investigar os custos e o funcionamento do serviço de ônibus, evitando que vingasse solicitação semelhante feita pela oposição.
O objetivo, segundo o prefeito, é tornar transparente o processo de renovação dos contratos. "Se há dúvida das ruas sobre o assunto, nossa obrigação é dirimi-las", afirmou em entrevista ao Estado, para que a solução a que se chegar "dê segurança para o investidor e para a população de que a remuneração é justa e o preço é justo". Pôr tudo em pratos limpos, abrir a caixa-preta do serviço de ônibus da capital, mostrando quais são exatamente os custos e ganhos das empresas que dominam o setor, é uma velha aspiração da população, que paga por ele de duas formas - diretamente por meio das passagens dos usuários e indiretamente por meio dos subsídios, que vêm do dinheiro de seus impostos. É preciso saber como e por que se paga caro por um serviço notoriamente ruim.
Os novos contratos que resultariam da licitação cancelada continham alguns avanços com relação aos atuais, como uma mudança na fórmula de remuneração das empresas. Em vez de ter como base só o número de passageiros, como acontece hoje - o que leva à superlotação dos ônibus como forma de aumentar os ganhos -, a fórmula proposta dava grande peso também ao número de viagens realizadas. As empresas estavam, é claro, descontentes com medidas como essa, que reduziriam seus ganhos - embora nem por isso eles fossem deixar de ser importantes - para aumentar o conforto dos passageiros.
É nessa direção que - espera-se - a Prefeitura continue a caminhar. Outra medida importante, na qual os especialistas insistem há muito tempo, é a reorganização das linhas, a ser feita de acordo com as necessidades da população e não os interesses das empresas.
Essa não é uma tarefa fácil. As empresas estão contentes com a situação atual. Elas formam um cartel, que até agora impediu a entrada de concorrentes, como reconhece o deputado Carlos Zarattini (PT-SP). No governo Marta Suplicy, quando foram assinados os atuais contratos, ele era secretário de Transportes e propôs um bom modelo para o serviço de ônibus, elogiado pelos especialistas, que infelizmente não foi implementado. A seu ver, o cartel deve ser quebrado com a estatização do transporte. Se isso não for possível, deve-se mudar a forma de remuneração das empresas.
Para tornar realidade qualquer uma dessas hipóteses - às quais se deve acrescentar a da quebra do cartel por meio da contratação, sempre possível, de empresas de fora -, será necessária uma alta dose de coragem e determinação do prefeito, porque essa, como se diz, é briga de gente grande.
Mas Haddad reúne hoje condições propícias para fazer isso. Se a CPI não for usada politicamente e se o Conselho funcionar como deve, poderá se abrir a caixa-preta dos ônibus e isso fará o prefeito marcar pontos ante a opinião pública, tão sensível a essa questão. Saberá ele aproveitar essa oportunidade?
A miséria do nacional-estatismo
SERGIO FAUSTO - O Estado de S.Paulo
SERGIO FAUSTO - O Estado de S.Paulo
É preciso aprender com a História, inclusive a recente. Duas das experiências
internacionais enaltecidas pelo nacional-estatismo brasileiro ao longo da última
década enveredam por caminhos cada vez mais sombrios. Falo da Rússia e da
Argentina.
O elogio partia de uma premissa verdadeira - sim, os governos de Boris Yeltsin e Carlos Menem terminaram em desastre, num misto de "fundamentalismo de mercado" com "capitalismo de compadrio" - para chegar à conclusão falsa de que nos governos de Vladimir Putin e do casal Kirchner, respectivamente, se estavam erguendo boas alternativas ao capitalismo liberal.
Os descaminhos a que esses países estão sendo conduzidos eram relativamente previsíveis. Não, porém, para aqueles que encontram refúgio na idealização do nacionalismo e do "Estado forte". Na sua versão mais autoritária, o nacional-estatismo produz uma dupla distorção. A nação, no lugar de ser entendida como expressão plural e soberana de seus cidadãos, é reduzida à vontade do Estado, instrumentalizada por grupos que controlam o governo. Assim, o nacionalismo converte-se em ideologia para excluir os opositores como antipatriotas, ao passo que o Estado deixa de zelar pela esfera pública para se transformar em ferramenta de poder dos ocupantes circunstanciais do governo.
Em seu afã de crítica ao capitalismo liberal, o "desenvolvimentismo" brasileiro não raro se deixa cegar pela fascinação nacional-estatista. Dessa maneira, confunde-se a justa crítica ao "fundamentalismo de mercado" com o rechaço em bloco ao liberalismo político e econômico clássico, base necessária, embora não suficiente, do pensamento e da experiência democrática contemporânea.
Na Rússia, onde Putin se elegeu pela segunda vez para a Presidência, depois de um intervalo de quatro anos como primeiro-ministro, o nacionalismo laico juntou-se ao tradicionalismo religioso para sufocar os espaços de autonomia e contestação da sociedade civil russa. A santa aliança entre o Kremlin e a Igreja Ortodoxa promove ataque sistemático às liberdades civis no país. O mais recente é o projeto de lei - indisfarçavelmente homofóbico - que define como crime a promoção de "relações amorosas não tradicionais" entre crianças e jovens. Sua aprovação é tida como líquida e certa, pois o Partido Rússia Unida, de Putin, conta com maioria parlamentar, resultante de eleições consideradas fraudulentas. A iniciativa surge na sequência do processo que levou à prisão as integrantes da banda Pussy Riot, acusadas de desrespeito a símbolos patrióticos e eclesiais.
A liberdade de imprensa é outra das maiores vítimas. As seis principais cadeias de televisão estão em mãos do governo ou de seus prepostos. Avolumam-se os processos contra jornalistas e veículos da mídia independente, que não encontram num Poder Judiciário garroteado proteção contra as arbitrariedades oficiais. Para a criminalização recorrente de indivíduos e organizações da sociedade civil o governo acusa-os de "agentes de potências externas e interesses estrangeiros".
O núcleo de poder no governo de Putin é formado pelo serviço de inteligência e por uma nova geração de oligarcas que substitui a que emergiu com as privatizações "selvagens" de Boris Yeltsin. Putin livrou-se daquela oligarquia encarcerando ou forçando ao exílio os seus membros mais recalcitrantes. Não o fez para sanear o país, mas para se apropriar de suas empresas e abrir espaço para uma nova burguesia, desta vez umbilicalmente ligada ao Estado e ao seu poder pessoal.
A recuperação da economia, favorecida pelos preços altos do petróleo e do gás natural nos mercados internacionais, e a retomada do orgulho nacional ferido pelo colapso da União Soviética e pelos anos caóticos de Boris Yeltsin asseguraram a Putin, até recentemente, elevada popularidade. O quadro, porém, está mudando. Com a desaceleração do crescimento, a explosão das desigualdades sociais, a inconformidade social cada vez maior com os privilégios e a corrupção que campeiam na nova burguesia estatal, a conservação do status quo passa a depender de doses crescentes de repressão política e fraude eleitoral, preço que Putin parece disposto a pagar para se manter no poder.
Mutatis mutandis, também na Argentina a manipulação do nacionalismo vem sendo utilizada intensamente pelos governos Kirchner para permitir que um grupo político se apodere do Estado e para justificar um ataque sistemático e deliberado não apenas às oposições, mas a quaisquer instituições que ousem pôr freio nos desígnios e propósitos oficiais. Claro, na Argentina a manipulação nacionalista tem marcas diferentes das características que assume na Rússia. Na primeira, apela à raiz popular do peronismo. Na segunda, à nostalgia de um passado imperial e ao sentimento presente de uma potência militar acossada. Mas há um traço comum: tanto lá como cá, a ideologia nacional-estatista é empregada para justificar a apropriação do Estado por grupos políticos determinados, o manejo discricionário das políticas e das instituições públicas e a asfixia da sociedade civil e das oposições.
A não compreensão das afinidades eletivas entre dirigismo estatal, manipulação nacionalista e autoritarismo - comprovadas pela frequência histórica com que esses três fenômenos surgem associados, reforçando-se mutuamente - explica por que certa corrente crítica ao capitalismo liberal namora o pensamento antidemocrático, quando não se acasala integralmente com ele. Num nível mais concreto, ajuda a entender também por que expoentes do "desenvolvimentismo" brasileiro - como Luiz Carlos Bresser-Pereira, a quem sobram credenciais democráticas - se tenham deixado seduzir pelos governos de Vladimir Putin e Cristina Kirchner, ensaiando só agora crítica tardia e insuficiente.
O elogio partia de uma premissa verdadeira - sim, os governos de Boris Yeltsin e Carlos Menem terminaram em desastre, num misto de "fundamentalismo de mercado" com "capitalismo de compadrio" - para chegar à conclusão falsa de que nos governos de Vladimir Putin e do casal Kirchner, respectivamente, se estavam erguendo boas alternativas ao capitalismo liberal.
Os descaminhos a que esses países estão sendo conduzidos eram relativamente previsíveis. Não, porém, para aqueles que encontram refúgio na idealização do nacionalismo e do "Estado forte". Na sua versão mais autoritária, o nacional-estatismo produz uma dupla distorção. A nação, no lugar de ser entendida como expressão plural e soberana de seus cidadãos, é reduzida à vontade do Estado, instrumentalizada por grupos que controlam o governo. Assim, o nacionalismo converte-se em ideologia para excluir os opositores como antipatriotas, ao passo que o Estado deixa de zelar pela esfera pública para se transformar em ferramenta de poder dos ocupantes circunstanciais do governo.
Em seu afã de crítica ao capitalismo liberal, o "desenvolvimentismo" brasileiro não raro se deixa cegar pela fascinação nacional-estatista. Dessa maneira, confunde-se a justa crítica ao "fundamentalismo de mercado" com o rechaço em bloco ao liberalismo político e econômico clássico, base necessária, embora não suficiente, do pensamento e da experiência democrática contemporânea.
Na Rússia, onde Putin se elegeu pela segunda vez para a Presidência, depois de um intervalo de quatro anos como primeiro-ministro, o nacionalismo laico juntou-se ao tradicionalismo religioso para sufocar os espaços de autonomia e contestação da sociedade civil russa. A santa aliança entre o Kremlin e a Igreja Ortodoxa promove ataque sistemático às liberdades civis no país. O mais recente é o projeto de lei - indisfarçavelmente homofóbico - que define como crime a promoção de "relações amorosas não tradicionais" entre crianças e jovens. Sua aprovação é tida como líquida e certa, pois o Partido Rússia Unida, de Putin, conta com maioria parlamentar, resultante de eleições consideradas fraudulentas. A iniciativa surge na sequência do processo que levou à prisão as integrantes da banda Pussy Riot, acusadas de desrespeito a símbolos patrióticos e eclesiais.
A liberdade de imprensa é outra das maiores vítimas. As seis principais cadeias de televisão estão em mãos do governo ou de seus prepostos. Avolumam-se os processos contra jornalistas e veículos da mídia independente, que não encontram num Poder Judiciário garroteado proteção contra as arbitrariedades oficiais. Para a criminalização recorrente de indivíduos e organizações da sociedade civil o governo acusa-os de "agentes de potências externas e interesses estrangeiros".
O núcleo de poder no governo de Putin é formado pelo serviço de inteligência e por uma nova geração de oligarcas que substitui a que emergiu com as privatizações "selvagens" de Boris Yeltsin. Putin livrou-se daquela oligarquia encarcerando ou forçando ao exílio os seus membros mais recalcitrantes. Não o fez para sanear o país, mas para se apropriar de suas empresas e abrir espaço para uma nova burguesia, desta vez umbilicalmente ligada ao Estado e ao seu poder pessoal.
A recuperação da economia, favorecida pelos preços altos do petróleo e do gás natural nos mercados internacionais, e a retomada do orgulho nacional ferido pelo colapso da União Soviética e pelos anos caóticos de Boris Yeltsin asseguraram a Putin, até recentemente, elevada popularidade. O quadro, porém, está mudando. Com a desaceleração do crescimento, a explosão das desigualdades sociais, a inconformidade social cada vez maior com os privilégios e a corrupção que campeiam na nova burguesia estatal, a conservação do status quo passa a depender de doses crescentes de repressão política e fraude eleitoral, preço que Putin parece disposto a pagar para se manter no poder.
Mutatis mutandis, também na Argentina a manipulação do nacionalismo vem sendo utilizada intensamente pelos governos Kirchner para permitir que um grupo político se apodere do Estado e para justificar um ataque sistemático e deliberado não apenas às oposições, mas a quaisquer instituições que ousem pôr freio nos desígnios e propósitos oficiais. Claro, na Argentina a manipulação nacionalista tem marcas diferentes das características que assume na Rússia. Na primeira, apela à raiz popular do peronismo. Na segunda, à nostalgia de um passado imperial e ao sentimento presente de uma potência militar acossada. Mas há um traço comum: tanto lá como cá, a ideologia nacional-estatista é empregada para justificar a apropriação do Estado por grupos políticos determinados, o manejo discricionário das políticas e das instituições públicas e a asfixia da sociedade civil e das oposições.
A não compreensão das afinidades eletivas entre dirigismo estatal, manipulação nacionalista e autoritarismo - comprovadas pela frequência histórica com que esses três fenômenos surgem associados, reforçando-se mutuamente - explica por que certa corrente crítica ao capitalismo liberal namora o pensamento antidemocrático, quando não se acasala integralmente com ele. Num nível mais concreto, ajuda a entender também por que expoentes do "desenvolvimentismo" brasileiro - como Luiz Carlos Bresser-Pereira, a quem sobram credenciais democráticas - se tenham deixado seduzir pelos governos de Vladimir Putin e Cristina Kirchner, ensaiando só agora crítica tardia e insuficiente.
Datafolha: Lula perde menos e venceria no primeiro turno
Em outros cenários, distância entre Dilma e adversários caiu e aponta para segundo turno
Em outros cenários, distância entre Dilma e adversários caiu e aponta para segundo turno
O GLOBO
SÃO PAULO - As mais de três semanas de protestos impactaram profundamente a pré-candidatura de Dilma Rousseff (PT) à Presidência em 2014, mostra uma pesquisa do Datafolha, publicada na edição deste domingo da “Folha de S.Paulo”. O levantamento mostra que a taxa de intenção de votos na presidente caiu 21 pontos percentuais, estando atualmente em 30% — ou seja, ela ainda lidera, mas teria que disputar um segundo turno com Marina Silva (Rede Sustentabilidade), cujas intenções cresceram de 16% no ínicio de junho para 23%. Neste cenário, foram incluídos Aécio Neves (PSDB) e Eduardo Campos (PSDB).
Marina Silva, que tenta viabilizar o seu partido Rede Sustentabilidade, foi a que mais subiu nos quatro cenários pesquisados pelo Datafolha: entre sete pontos (com Dilma e sem Barbosa) e dois (com Lula e com Barbosa). Aécio Neves cresce entre três pontos (com Dilma) e um (com Lula).
O número de eleitores sem candidato também cresceu. No cenário atualmente mais provável, com Dilma, Marina, Aécio e Campos, o número dos que votariam em branco, nulo ou que ainda não sabem em quem votar passou de 12% para 24% — o que, segundo analistas, reflete a insatisfação com a classe política exposta nas manifestações. Na pesquisa espontânea, quando os pesquisadores não apresentam nenhum nome, o percentual dos que votariam em Dilma Rousseff caiu de 27% para 16% agora; seguida por Lula com 6% e por Aécio, com 4%. Barbosa, que não havia aparecido na pesquisa anterior, surge agora com 2%. O ex-governador José Serra (PSDB) dobrou seu percentual, de 1% para 2%. Na pesquisa espontânea, 55% dos eleitores ainda se dizem indecisos. Votos em branco e nulos passam de 5% para 9%. Ou seja, 64%, se indagados espontaneamente, não apontam nenhum candidato.
A pesquisa que ouviu mais de 4 mil pessoas em 196 cidades, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofre uma queda muito menor de popularidade do que Dilma, e venceria no primeiro turno, num cenário contra Marina, Aécio Neves (PSDB) e Eduardo Campos (PSB). Lula, que tinha 55% das intenções de voto no início de junho (antes dos protestos), tem 46%; seguido por Marina e Aécio.
Mesmo negando ser candidato, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, viu suas intenções de voto dobrarem do início de junho para cá: contra Dilma, Barbosa passou de 8% para 15%; já contra Lula, de 8% para 13% — se Barbosa se candidatasse num cenário contra Lula, o ex-presidente provavelmente disputaria um segundo turno. Já Aécio Neves aparece na terceira colocação em todos os cenários, menos se Barbosa disputar a Presidência: os dois ficariam em empate técnico.Marina Silva, que tenta viabilizar o seu partido Rede Sustentabilidade, foi a que mais subiu nos quatro cenários pesquisados pelo Datafolha: entre sete pontos (com Dilma e sem Barbosa) e dois (com Lula e com Barbosa). Aécio Neves cresce entre três pontos (com Dilma) e um (com Lula).
O número de eleitores sem candidato também cresceu. No cenário atualmente mais provável, com Dilma, Marina, Aécio e Campos, o número dos que votariam em branco, nulo ou que ainda não sabem em quem votar passou de 12% para 24% — o que, segundo analistas, reflete a insatisfação com a classe política exposta nas manifestações. Na pesquisa espontânea, quando os pesquisadores não apresentam nenhum nome, o percentual dos que votariam em Dilma Rousseff caiu de 27% para 16% agora; seguida por Lula com 6% e por Aécio, com 4%. Barbosa, que não havia aparecido na pesquisa anterior, surge agora com 2%. O ex-governador José Serra (PSDB) dobrou seu percentual, de 1% para 2%. Na pesquisa espontânea, 55% dos eleitores ainda se dizem indecisos. Votos em branco e nulos passam de 5% para 9%. Ou seja, 64%, se indagados espontaneamente, não apontam nenhum candidato.
A política nas ruas
O Estado de S.Paulo
As manifestações populares que tomaram as ruas nas últimas semanas, entre os
resultados concretos que já produziram - como a redução das tarifas dos
transportes - e outros que certamente ainda provocarão, colocam a nu a
monumental realização de Lula e do PT em pouco mais de dez anos no poder: a
debilitação, quase a anulação, do debate político em seu maior foro
institucional, o Parlamento.
Na falta de quem exprimisse seus anseios e necessidades mais prementes - captá-los e processá-los é função dos políticos, numa democracia representativa -, o cidadão saiu às ruas para dizer ele próprio o que pensa e o que quer do governo. É simples assim. Menos mal, é claro, que vivemos num país em que o cidadão tem a liberdade de sair às ruas para se manifestar. Mas é muito ruim que seja forçado a esse exercício democrático porque se cansou de ver obstruídos os canais institucionais que, por definição, existem para representá-lo.
Esse gravíssimo sintoma do mau funcionamento do sistema democrático só pode ser debitado na conta de quem tem a responsabilidade de manejá-lo: o governo.
E o simples fato de o governo ter sido constrangido a vir a público para admitir que o coro das ruas tem razão e para anunciar providências emergenciais para atendê-lo leva à inescapável conclusão: se o governo tivesse tido a competência de fazer antes, no tempo certo, o que está tentando fazer agora, sob a pressão do clamor popular, os brasileiros estariam hoje celebrando em paz o país de sonho que o PT prometeu e não entregou.
O fato é que o lulopetismo, do alto de sua soberba, messiânico e populista, a partir de 2003 tomou enorme gosto pelo poder e passou a cultivar a obsessão de nele se perpetuar. Uma ambição até legítima, se sustentada de forma genuinamente democrática.
Mas está longe de ser democrático quem sustenta seu poder - para ficarmos apenas no caso do Congresso Nacional - por meio da subjugação das instituições, exatamente aquelas que têm a missão constitucional de representar os cidadãos (a Câmara dos Deputados) e as unidades federadas (o Senado Federal), além de fiscalizar os atos do Executivo. Pois foi exatamente essa a tarefa a que, inicialmente sob o desastrado comando do mensaleiro José Dirceu, o PT se dedicou com afinco: transformar o Congresso Nacional num mero balcão de negócios, silenciando a discussão das grandes questões políticas do País com a generosa distribuição de toda sorte de vantagens pessoais, inclusive de nacos de poder. Afinal, para que debate, se os iluminados donos do poder sempre souberam perfeita e exatamente o que o povo quer?
É claro que, a partir do instante em que senadores e deputados se mostram incapazes e desinteressados de atuar em sintonia com o sentimento popular, se abre espaço para o clamor das ruas. Trata-se de reação saudável do ponto de vista da democracia, mas obviamente excepcional. A necessária participação popular nos sistemas democráticos tem à sua disposição mecanismos e foros adequados, de organizações não governamentais e entidades associativas aos partidos políticos. Mas é nos Parlamentos que devem desaguar as aspirações populares.
Por essa razão é que, por meio da cooptação puramente fisiológica dos partidos no Congresso Nacional, o lulopetismo vinha tentando impor-se absoluto e incontrastável na missão de definir os rumos do País. Vinha - até que as ruas se tingiram de verde-amarelo e chamaram para si a definição da agenda política prioritária e aos atônitos governantes não restou senão correr atrás do prejuízo.
A teoria da separação e autonomia dos Poderes constitui o núcleo duro do sistema democrático de governo. Sua prática, entretanto, depende da competência com que os atores da cena política logram equilibrar o jogo de interesses conflitantes inevitável em qualquer tipo de convivência humana. Aqui, lamentavelmente, o lulopetismo alterou em seu benefício o equilíbrio entre os Poderes da República ao impor o fisiologismo como moeda corrente da vida pública nacional. Despolitizou o Parlamento. O resultado está nas ruas.
Na falta de quem exprimisse seus anseios e necessidades mais prementes - captá-los e processá-los é função dos políticos, numa democracia representativa -, o cidadão saiu às ruas para dizer ele próprio o que pensa e o que quer do governo. É simples assim. Menos mal, é claro, que vivemos num país em que o cidadão tem a liberdade de sair às ruas para se manifestar. Mas é muito ruim que seja forçado a esse exercício democrático porque se cansou de ver obstruídos os canais institucionais que, por definição, existem para representá-lo.
Esse gravíssimo sintoma do mau funcionamento do sistema democrático só pode ser debitado na conta de quem tem a responsabilidade de manejá-lo: o governo.
E o simples fato de o governo ter sido constrangido a vir a público para admitir que o coro das ruas tem razão e para anunciar providências emergenciais para atendê-lo leva à inescapável conclusão: se o governo tivesse tido a competência de fazer antes, no tempo certo, o que está tentando fazer agora, sob a pressão do clamor popular, os brasileiros estariam hoje celebrando em paz o país de sonho que o PT prometeu e não entregou.
O fato é que o lulopetismo, do alto de sua soberba, messiânico e populista, a partir de 2003 tomou enorme gosto pelo poder e passou a cultivar a obsessão de nele se perpetuar. Uma ambição até legítima, se sustentada de forma genuinamente democrática.
Mas está longe de ser democrático quem sustenta seu poder - para ficarmos apenas no caso do Congresso Nacional - por meio da subjugação das instituições, exatamente aquelas que têm a missão constitucional de representar os cidadãos (a Câmara dos Deputados) e as unidades federadas (o Senado Federal), além de fiscalizar os atos do Executivo. Pois foi exatamente essa a tarefa a que, inicialmente sob o desastrado comando do mensaleiro José Dirceu, o PT se dedicou com afinco: transformar o Congresso Nacional num mero balcão de negócios, silenciando a discussão das grandes questões políticas do País com a generosa distribuição de toda sorte de vantagens pessoais, inclusive de nacos de poder. Afinal, para que debate, se os iluminados donos do poder sempre souberam perfeita e exatamente o que o povo quer?
É claro que, a partir do instante em que senadores e deputados se mostram incapazes e desinteressados de atuar em sintonia com o sentimento popular, se abre espaço para o clamor das ruas. Trata-se de reação saudável do ponto de vista da democracia, mas obviamente excepcional. A necessária participação popular nos sistemas democráticos tem à sua disposição mecanismos e foros adequados, de organizações não governamentais e entidades associativas aos partidos políticos. Mas é nos Parlamentos que devem desaguar as aspirações populares.
Por essa razão é que, por meio da cooptação puramente fisiológica dos partidos no Congresso Nacional, o lulopetismo vinha tentando impor-se absoluto e incontrastável na missão de definir os rumos do País. Vinha - até que as ruas se tingiram de verde-amarelo e chamaram para si a definição da agenda política prioritária e aos atônitos governantes não restou senão correr atrás do prejuízo.
A teoria da separação e autonomia dos Poderes constitui o núcleo duro do sistema democrático de governo. Sua prática, entretanto, depende da competência com que os atores da cena política logram equilibrar o jogo de interesses conflitantes inevitável em qualquer tipo de convivência humana. Aqui, lamentavelmente, o lulopetismo alterou em seu benefício o equilíbrio entre os Poderes da República ao impor o fisiologismo como moeda corrente da vida pública nacional. Despolitizou o Parlamento. O resultado está nas ruas.
Ótimas rodovias: por que, afinal, no Brasil todo não é assim?
Ricardo Setti - VEJA

POR QUE NO BRASIL TODO NÃO É ASSIM?
Humberto Maia Junior - Exame
Um estudo exclusivo mostra que o país precisa fazer no mínimo mais 21 mil quilômetros de estradas duplicadas para dar competitividade à economia.
O custo das obras: 250 bilhões de reais. O prazo de execução: oito anos
Poucas horas antes do Dia D, em 6 de junho de 1944, o general Dwight “Ike” Eisenhower, comandante supremo das Forças Aliadas durante a II Guerra Mundial, em mensagem aos soldados que estavam prestes a desembarcar nas praias francesas para retomar a Europa de Hitler, disse: “Os olhos do mundo estão sobre vocês!”
Durante a campanha na Europa, que terminou no ano seguinte com a capitulação da Alemanha, os olhos de Eisenhower se voltaram para algo completamente distinto: as estradas alemãs. O general americano se impressionou com o tamanho e a qualidade do sistema rodoviário do inimigo, que permitia a Hitler deslocar com rapidez tanques e tropas.
Era a confirmação de uma ideia que havia muito ocupava a mente de Ike: não se faz um grande país sem boas estradas. Em 1919, ele tinha feito parte do comboio de 81 veículos do Exército americano que levou dois meses para atravessar os Estados Unidos de costa a costa, numa ação que tinha como objetivo denunciar a deficiência da malha rodoviária americana.
Por isso, quando se tornou o 34° presidente dos Estados Unidos, em 1953, uma das primeiras grandes iniciativas de Ike foi criar a Lei de Ajuda Federal às Estradas de 1956: um projeto que, de 1956 a 1992, dotou o país de 66.000 quilômetros de rodovias duplicadas – as chamadas autoestradas, mais ágeis e seguras do que as vias de pistas simples. Hoje, a rede americana de autoestradas cruza o país em todas as direções, somando um total de 75.200 quilômetros.
Enquanto os Estados Unidos montavam um dos maiores sistemas rodoviários do mundo, o Brasil pouco fez. Temos apenas 11.000 quilômetros de estradas duplicadas, a maioria concentrada no centro-sul do país. Apenas o Estado de São Paulo conta com uma densidade de autoestradas que se aproxima do caso americano (visível no mapa).
Nove Estados brasileiros não têm nenhum quilômetro sequer desse tipo de rodovia. No total, a malha brasileira é de 212.000 quilômetros de vias pavimentadas – quase um vigésimo da extensão americana, de 4,2 milhões. Dotar o Brasil de uma infraestrutura do nível americano parece utópico – ainda mais contando com um governo que está embananado para levar a leilão um lote de 7.500 quilômetros de rodovias. Mas é possível tirar uma boa parte do atraso em tempo relativamente curto.
Exame teve acesso a um estudo inédito da consultoria Bain&Company com uma proposta factível e que melhoraria, em muito, a situação do transporte no país. O estudo defende a duplicação de 21.000 quilômetros de rodovias já existentes. Isso aumentaria a extensão de estradas com duas pistas para 32.000 quilômetros. “Ainda é menos da metade da malha americana de autoestradas, mas já teríamos uma infraestrutura com qualidade mínima para atender a economia brasileira”, afirma Fernando Martins, sócio da Bain&Company e autor do estudo.
O custo do empreendimento é calculado em 250 bilhões de reais – um quarto do valor gasto para a execução do plano de Eisenhower. As obras poderiam, pelo menos no campo da teoria, ser concluídas em até oito anos – desde que não parem nos velhos entraves burocráticos nem na demora excessiva para a obtenção de licenças ambientais.
Sendo mais realista, é razoável falar num prazo de 15 anos para a execução. Só para comparar: a China precisou de uma década para construir 2,5 milhões de quilômetros de estradas – com uma rede duplicada que equivale a oito vezes a nossa atual. Para driblar a ineficiência estatal, os 21.000 quilômetros de estradas seriam executados pela iniciativa privada.
É o mais indicado num país onde 87% das rodovias privadas são classificadas como boas ou ótimas, enquanto 66% das principais estradas públicas são consideradas ruins ou, no máximo, regulares.
Segundo o estudo, 13.000 quilômetros poderiam ser privatizados na forma de concessões, gerando um investimento de 157 bilhões de reais, pagos pela cobrança de pedágios. Nos trechos que passam por regiões menos desenvolvidas, o modelo adotado teria de ser o de parceria público-privada. O investimento nessa parte seria de 92 bilhões, dividido entre empresas e governo.
Ganho de produtividade
O efeito da melhoria do transporte rodoviário na economia seria expressivo. O aumento da taxa de investimentos previsto para o período de obras é de 0,9% ponto percentual por ano, e no produto interno bruto, de 1,25 ponto ao ano – um impulso precioso para um país que não tem conseguido crescer nem 3% ao ano.
As 100 maiores cidades brasileiras, entre elas 20 capitais, ganhariam ligação por rodovias duplicadas. “Capitais da Região Norte ficaram de fora porque seria caro incluí-las na proposta. Nesse caso, estradas de pistas simples podem atender à demanda”, diz Martins.
Importante: o plano prevê que todas as rodovias próximas sejam ligadas por alças ou rodoaneis, como ocorre nos Estados Unidos, evitando o percurso entre cidades. Quem já ficou parado no trânsito da marginal Tietê, em São Paulo, tentando passar de uma estrada a outra, sabe a economia de tempo – e de paciência – que isso representa.
A lógica da escolha das rodovias a ser duplicadas é óbvia. As prioritárias são os corredores para o transporte da produção e para o abastecimento das áreas mais povoadas. O Brasil tem nas rodovias o principal meio de escoamento do que produz. Quase dois terços das cargas são distribuídos por caminhões. Nos Estados Unidos, a proporção não chega a 30%. Nesse cenário, seria de esperar que o Brasil investisse em estradas de qualidade. Nada disso.
Além de pequena, a malha brasileira é notória pelos buracos e pelos traçados com curvas perigosas, causadores de acidentes, lentidão e desgaste nos veículos. A empresa de transporte de passageiros Itapemirim comparou durante um ano os custos de trafegar com seus ônibus em rodovias com boas e más condições de asfalto. O resultado: estradas ruins aumentam os custos em quase 15%.
De acordo com a escola de negócios Fundação Dom Cabral, o país perde a cada ano 80 bilhões de reais com a infraestrutura rodoviária capenga. “O Brasil tem deficiência em rodovias, hidrovias e ferrovias, mas, se tivesse de priorizar investimentos, teríamos de começar pelas estradas”, diz Paulo Resende, coordenador do Núcleo de Infraestrutura e Logística da Dom Cabral.
A pedido de Exame, a Bain&Company fez uma simulação dos ganhos de produtividade no transporte de cargas entre Belém e São Paulo, rota quase obrigatória para as empresas da Zona Franca de Manaus que têm no Sudeste seu principal mercado ou usam portos da região para o comércio exterior. Com a duplicação das rodovias Belém-Brasília e Brasília-São Paulo, haveria um ganho na velocidade média de 44 para 60 quilômetros por hora.
A viagem, hoje feita em seis dias ao custo de 9.000 reais, passaria a ser feita em quatro dias, por 7.244 reais. A redução de custos compensa o gasto com pedágios, estimado em 696 reais. “A economia de combustível e o desgaste menor de veículos, além do tempo livre que poderá ser utilizado para mais viagens, dão um ganho de produtividade de quase 12%”, afirma Martins, da Bain.
Na verdade, o ganho pode ser maior. “Em épocas de chuva, um caminhão leva até dez dias saindo de Belém para São Paulo”, diz Paulo Sarti, presidente da empresa de logística Penske na América do Sul. Para a produtora de eletrodomésticos Whirlpool, que tem fábrica em Manaus, os custos de frete chegam a 12% do custo final de um produto.
Nos Estados Unidos, os gastos da Whirlpool com frete não ultrapassam 3%. Culpa das estradas. Trazer um contêiner da China até Santos sai mais barato para a empresa do que levar uma carreta de Manaus para São Paulo – 8.000 ante 12.000 reais.
A proposta de criação de corredores novos atende um sonho de produtores de grãos do Centro-Oeste: acabar com a dependência dos portos do Sul. Hoje, como a saída pelo norte significa encarar estradas esburacadas e portos acanhados, a opção da maioria dos produtores é por enfrentar as filas nos distantes portos do Sul.
Quase 70% da exportação brasileira de soja, que em 2013 pode chegar a 38 milhões de toneladas, sai por Santos e Paranaguá. O volume gera um tráfego de 700.000 caminhões. “Se houvesse boas estradas rumo ao norte, certamente inverteríamos a matriz de escoamento”, diz Rodrigo Koelle, gerente de logística da Cargill.
Segundo a Aprosoja, associação que reúne produtores de Mato Grosso, o frete de Sorriso (MT) a Santos sai por 320 reais a tonelada. O produtor de Illinois, estado da região central dos Estados Unidos, paga 40 reais para levar o produto a Nova Orleans, no oceano Atlântico, e 70 reais até Oregon, no Pacífico – a um “pulo” da China, maior comprador de soja do mundo. “Essa diferença é riqueza que o Brasil perde, diz Carlos Fávaro, presidente da Aprosoja.
Está na hora de melhorar as estradas – e parar de perder riqueza pelo caminho.
Ricardo Setti - VEJA

CRUZAMENTO DAS VIAS ANHANGUERA E BANDEIRANTES, EM SÃO PAULO: boas estradas são exceção no Brasil (Foto: Mauricio Simonetti)
Humberto Maia Junior - Exame
Um estudo exclusivo mostra que o país precisa fazer no mínimo mais 21 mil quilômetros de estradas duplicadas para dar competitividade à economia.
O custo das obras: 250 bilhões de reais. O prazo de execução: oito anos
Poucas horas antes do Dia D, em 6 de junho de 1944, o general Dwight “Ike” Eisenhower, comandante supremo das Forças Aliadas durante a II Guerra Mundial, em mensagem aos soldados que estavam prestes a desembarcar nas praias francesas para retomar a Europa de Hitler, disse: “Os olhos do mundo estão sobre vocês!”
Durante a campanha na Europa, que terminou no ano seguinte com a capitulação da Alemanha, os olhos de Eisenhower se voltaram para algo completamente distinto: as estradas alemãs. O general americano se impressionou com o tamanho e a qualidade do sistema rodoviário do inimigo, que permitia a Hitler deslocar com rapidez tanques e tropas.
Era a confirmação de uma ideia que havia muito ocupava a mente de Ike: não se faz um grande país sem boas estradas. Em 1919, ele tinha feito parte do comboio de 81 veículos do Exército americano que levou dois meses para atravessar os Estados Unidos de costa a costa, numa ação que tinha como objetivo denunciar a deficiência da malha rodoviária americana.
Por isso, quando se tornou o 34° presidente dos Estados Unidos, em 1953, uma das primeiras grandes iniciativas de Ike foi criar a Lei de Ajuda Federal às Estradas de 1956: um projeto que, de 1956 a 1992, dotou o país de 66.000 quilômetros de rodovias duplicadas – as chamadas autoestradas, mais ágeis e seguras do que as vias de pistas simples. Hoje, a rede americana de autoestradas cruza o país em todas as direções, somando um total de 75.200 quilômetros.
Enquanto os Estados Unidos montavam um dos maiores sistemas rodoviários do mundo, o Brasil pouco fez. Temos apenas 11.000 quilômetros de estradas duplicadas, a maioria concentrada no centro-sul do país. Apenas o Estado de São Paulo conta com uma densidade de autoestradas que se aproxima do caso americano (visível no mapa).
Nove Estados brasileiros não têm nenhum quilômetro sequer desse tipo de rodovia. No total, a malha brasileira é de 212.000 quilômetros de vias pavimentadas – quase um vigésimo da extensão americana, de 4,2 milhões. Dotar o Brasil de uma infraestrutura do nível americano parece utópico – ainda mais contando com um governo que está embananado para levar a leilão um lote de 7.500 quilômetros de rodovias. Mas é possível tirar uma boa parte do atraso em tempo relativamente curto.
Exame teve acesso a um estudo inédito da consultoria Bain&Company com uma proposta factível e que melhoraria, em muito, a situação do transporte no país. O estudo defende a duplicação de 21.000 quilômetros de rodovias já existentes. Isso aumentaria a extensão de estradas com duas pistas para 32.000 quilômetros. “Ainda é menos da metade da malha americana de autoestradas, mas já teríamos uma infraestrutura com qualidade mínima para atender a economia brasileira”, afirma Fernando Martins, sócio da Bain&Company e autor do estudo.
O custo do empreendimento é calculado em 250 bilhões de reais – um quarto do valor gasto para a execução do plano de Eisenhower. As obras poderiam, pelo menos no campo da teoria, ser concluídas em até oito anos – desde que não parem nos velhos entraves burocráticos nem na demora excessiva para a obtenção de licenças ambientais.
Sendo mais realista, é razoável falar num prazo de 15 anos para a execução. Só para comparar: a China precisou de uma década para construir 2,5 milhões de quilômetros de estradas – com uma rede duplicada que equivale a oito vezes a nossa atual. Para driblar a ineficiência estatal, os 21.000 quilômetros de estradas seriam executados pela iniciativa privada.
É o mais indicado num país onde 87% das rodovias privadas são classificadas como boas ou ótimas, enquanto 66% das principais estradas públicas são consideradas ruins ou, no máximo, regulares.
Segundo o estudo, 13.000 quilômetros poderiam ser privatizados na forma de concessões, gerando um investimento de 157 bilhões de reais, pagos pela cobrança de pedágios. Nos trechos que passam por regiões menos desenvolvidas, o modelo adotado teria de ser o de parceria público-privada. O investimento nessa parte seria de 92 bilhões, dividido entre empresas e governo.
Ganho de produtividade
O efeito da melhoria do transporte rodoviário na economia seria expressivo. O aumento da taxa de investimentos previsto para o período de obras é de 0,9% ponto percentual por ano, e no produto interno bruto, de 1,25 ponto ao ano – um impulso precioso para um país que não tem conseguido crescer nem 3% ao ano.
As 100 maiores cidades brasileiras, entre elas 20 capitais, ganhariam ligação por rodovias duplicadas. “Capitais da Região Norte ficaram de fora porque seria caro incluí-las na proposta. Nesse caso, estradas de pistas simples podem atender à demanda”, diz Martins.
Importante: o plano prevê que todas as rodovias próximas sejam ligadas por alças ou rodoaneis, como ocorre nos Estados Unidos, evitando o percurso entre cidades. Quem já ficou parado no trânsito da marginal Tietê, em São Paulo, tentando passar de uma estrada a outra, sabe a economia de tempo – e de paciência – que isso representa.
A lógica da escolha das rodovias a ser duplicadas é óbvia. As prioritárias são os corredores para o transporte da produção e para o abastecimento das áreas mais povoadas. O Brasil tem nas rodovias o principal meio de escoamento do que produz. Quase dois terços das cargas são distribuídos por caminhões. Nos Estados Unidos, a proporção não chega a 30%. Nesse cenário, seria de esperar que o Brasil investisse em estradas de qualidade. Nada disso.
Além de pequena, a malha brasileira é notória pelos buracos e pelos traçados com curvas perigosas, causadores de acidentes, lentidão e desgaste nos veículos. A empresa de transporte de passageiros Itapemirim comparou durante um ano os custos de trafegar com seus ônibus em rodovias com boas e más condições de asfalto. O resultado: estradas ruins aumentam os custos em quase 15%.
De acordo com a escola de negócios Fundação Dom Cabral, o país perde a cada ano 80 bilhões de reais com a infraestrutura rodoviária capenga. “O Brasil tem deficiência em rodovias, hidrovias e ferrovias, mas, se tivesse de priorizar investimentos, teríamos de começar pelas estradas”, diz Paulo Resende, coordenador do Núcleo de Infraestrutura e Logística da Dom Cabral.
A pedido de Exame, a Bain&Company fez uma simulação dos ganhos de produtividade no transporte de cargas entre Belém e São Paulo, rota quase obrigatória para as empresas da Zona Franca de Manaus que têm no Sudeste seu principal mercado ou usam portos da região para o comércio exterior. Com a duplicação das rodovias Belém-Brasília e Brasília-São Paulo, haveria um ganho na velocidade média de 44 para 60 quilômetros por hora.
A viagem, hoje feita em seis dias ao custo de 9.000 reais, passaria a ser feita em quatro dias, por 7.244 reais. A redução de custos compensa o gasto com pedágios, estimado em 696 reais. “A economia de combustível e o desgaste menor de veículos, além do tempo livre que poderá ser utilizado para mais viagens, dão um ganho de produtividade de quase 12%”, afirma Martins, da Bain.
Na verdade, o ganho pode ser maior. “Em épocas de chuva, um caminhão leva até dez dias saindo de Belém para São Paulo”, diz Paulo Sarti, presidente da empresa de logística Penske na América do Sul. Para a produtora de eletrodomésticos Whirlpool, que tem fábrica em Manaus, os custos de frete chegam a 12% do custo final de um produto.
Nos Estados Unidos, os gastos da Whirlpool com frete não ultrapassam 3%. Culpa das estradas. Trazer um contêiner da China até Santos sai mais barato para a empresa do que levar uma carreta de Manaus para São Paulo – 8.000 ante 12.000 reais.
A proposta de criação de corredores novos atende um sonho de produtores de grãos do Centro-Oeste: acabar com a dependência dos portos do Sul. Hoje, como a saída pelo norte significa encarar estradas esburacadas e portos acanhados, a opção da maioria dos produtores é por enfrentar as filas nos distantes portos do Sul.
Quase 70% da exportação brasileira de soja, que em 2013 pode chegar a 38 milhões de toneladas, sai por Santos e Paranaguá. O volume gera um tráfego de 700.000 caminhões. “Se houvesse boas estradas rumo ao norte, certamente inverteríamos a matriz de escoamento”, diz Rodrigo Koelle, gerente de logística da Cargill.
Segundo a Aprosoja, associação que reúne produtores de Mato Grosso, o frete de Sorriso (MT) a Santos sai por 320 reais a tonelada. O produtor de Illinois, estado da região central dos Estados Unidos, paga 40 reais para levar o produto a Nova Orleans, no oceano Atlântico, e 70 reais até Oregon, no Pacífico – a um “pulo” da China, maior comprador de soja do mundo. “Essa diferença é riqueza que o Brasil perde, diz Carlos Fávaro, presidente da Aprosoja.
Está na hora de melhorar as estradas – e parar de perder riqueza pelo caminho.
Marina, a evangélica
Merval Pereira - O Globo
A queda espetacular de popularidade da presidente Dilma registrada na pesquisa Datafolha de ontem - apenas 30% dos consultados consideram seu governo “bom” ou “ótimo”, contra 57% na primeira semana deste mês - tem reflexos inevitáveis na corrida presidencial. O PSDB tem uma pesquisa nacional que mostra uma reversão de expectativas, com o segundo turno garantido e os adversários do PT tendo a maioria dos votos, embora a presidente Dilma continue à frente.
Pela pesquisa, a presidente Dilma teria hoje 40% dos votos, a ex-senadora Marina Silva 22%, o senador Aécio Neves 20% e o governador de Pernambuco Eduardo Campos 5%. Mais uma vez Marina surge como a grande beneficiária dos movimentos de contestação que ocorrem pelo país, pois, embora tenha sido senadora por 16 anos e fundadora do PT, ela não é percebida pela população como uma política profissional.
Mas Marina tem também um lado evangélico que, se sabe agora por estudos recentes, foi decisivo na sua votação na campanha eleitoral de 2010. O professor Cesar Romero Jacob, diretor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, lançou recentemente o e-book Religião e Território no Brasil: 1991/2010 da Editora da PUC, trabalho que, ao analisar as transformações no perfil religioso da população brasileira, com o crescimento do número de evangélicos no país, pode ser útil para o entendimento do cenário eleitoral do ano que vem, considerando a participação crescente de pastores pentecostais na política.
Segundo Romero Jacob, o pluralismo religioso se consolidou no país, com a Igreja Católica perdendo 24 pontos percentuais. O número de católicos cai de 89% da população para 65% em 30 anos. No mesmo período, os fiéis do conjunto de Igrejas Pentecostais passam de 3% da população em 80 para 13% em 2010. “O Brasil deixou de ser um país de hegemonia católica para ser um país de maioria católica”.
Segundo o estudo, no Nordeste, Minas Gerais e o sul do Brasil, o percentual de católicos se mantém muito elevado, mas nas áreas de imigração para a fronteira agrícola e mineral do centro-oeste e norte e na periferia das regiões metropolitanas os pentecostais crescem. “De um modo geral, diz Romero Jacob, nas áreas de expansão recente e, sobretudo, num certo caos social, o pentecostalismo se implantou”.
Essa seria a razão da participação de Marina Silva em cultos evangélicos para a coleta de assinaturas em apoio à criação do seu partido, a REDE, como seus militantes fizeram ontem na Marcha para Jesus, em São Paulo. Apesar de o livro se ater à questão religiosa, os mapas permitem algumas ilações políticas, uma vez que os pastores têm demonstrado certo controle sobre o eleitorado evangélico pentecostal.
Na política, na época da eleição de 2010, na análise de Romero Jacob, Marina conseguiu atrair os insatisfeitos com a campanha do Serra, os petistas insatisfeitos com os rumos do governo do PT, os evangélicos e até os verdes, que não têm uma expressão tão grande assim do ponto de vista eleitoral. Mas o que parece agora, com dados novos, diz o professor da PUC, quando se analisa o mapa dos pentecostais e não determinados com o mapa da votação da Marina, “mesmo que não sejam exatamente iguais, têm pontos de contato muito nítidos”.
Embora Marina tenha construído uma carreira em torno da questão ambiental, isso não significa dizer que os evangélicos não a tenham apoiado fortemente. “É claro que a Marina não é uma evangélica óbvia, ela tem uma sofisticação na fala, no sentido de não estar diretamente ligada à questão religiosa”, analisa Romero Jacob, ressaltando que “quem é muito óbvio, como Garotinho e Crivella, tem uma rejeição muito alta exatamente pela mistura da religião com política”. Ou, como define, “tem um piso alto, mas um teto baixo”.
Em 2010, Marina tinha a agenda verde na mão, mas agregou pouco ao PV. Os 20 milhões de votos não aumentaram a bancada de deputados federais do PV. “Quando se vê Marina indo buscar assinaturas em cultos evangélicos para viabilizar seu partido, isso significa que aí ela se restringe”, comenta Romero Jacob.
Entre 22% e 40% se declara evangélica no estado de São Paulo, que tem ¼ do eleitorado, o que dá a Marina uma robustez eleitoral, “insuficiente para levá-la para o segundo turno, mas suficiente para construir um segundo turno”.
Os mapas indicam, segundo Romero Jacob, que a votação da Marina em 2010 foi menos dos verdes, dos eleitores insatisfeitos e muito mais dos irmãos, sobretudo no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. “Mesmo que a Marina não tenha feito campanha voltada para as igrejas, as igrejas fizeram campanha para ela”.
Pela pesquisa, a presidente Dilma teria hoje 40% dos votos, a ex-senadora Marina Silva 22%, o senador Aécio Neves 20% e o governador de Pernambuco Eduardo Campos 5%. Mais uma vez Marina surge como a grande beneficiária dos movimentos de contestação que ocorrem pelo país, pois, embora tenha sido senadora por 16 anos e fundadora do PT, ela não é percebida pela população como uma política profissional.
Mas Marina tem também um lado evangélico que, se sabe agora por estudos recentes, foi decisivo na sua votação na campanha eleitoral de 2010. O professor Cesar Romero Jacob, diretor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, lançou recentemente o e-book Religião e Território no Brasil: 1991/2010 da Editora da PUC, trabalho que, ao analisar as transformações no perfil religioso da população brasileira, com o crescimento do número de evangélicos no país, pode ser útil para o entendimento do cenário eleitoral do ano que vem, considerando a participação crescente de pastores pentecostais na política.
Segundo Romero Jacob, o pluralismo religioso se consolidou no país, com a Igreja Católica perdendo 24 pontos percentuais. O número de católicos cai de 89% da população para 65% em 30 anos. No mesmo período, os fiéis do conjunto de Igrejas Pentecostais passam de 3% da população em 80 para 13% em 2010. “O Brasil deixou de ser um país de hegemonia católica para ser um país de maioria católica”.
Segundo o estudo, no Nordeste, Minas Gerais e o sul do Brasil, o percentual de católicos se mantém muito elevado, mas nas áreas de imigração para a fronteira agrícola e mineral do centro-oeste e norte e na periferia das regiões metropolitanas os pentecostais crescem. “De um modo geral, diz Romero Jacob, nas áreas de expansão recente e, sobretudo, num certo caos social, o pentecostalismo se implantou”.
Essa seria a razão da participação de Marina Silva em cultos evangélicos para a coleta de assinaturas em apoio à criação do seu partido, a REDE, como seus militantes fizeram ontem na Marcha para Jesus, em São Paulo. Apesar de o livro se ater à questão religiosa, os mapas permitem algumas ilações políticas, uma vez que os pastores têm demonstrado certo controle sobre o eleitorado evangélico pentecostal.
Na política, na época da eleição de 2010, na análise de Romero Jacob, Marina conseguiu atrair os insatisfeitos com a campanha do Serra, os petistas insatisfeitos com os rumos do governo do PT, os evangélicos e até os verdes, que não têm uma expressão tão grande assim do ponto de vista eleitoral. Mas o que parece agora, com dados novos, diz o professor da PUC, quando se analisa o mapa dos pentecostais e não determinados com o mapa da votação da Marina, “mesmo que não sejam exatamente iguais, têm pontos de contato muito nítidos”.
Embora Marina tenha construído uma carreira em torno da questão ambiental, isso não significa dizer que os evangélicos não a tenham apoiado fortemente. “É claro que a Marina não é uma evangélica óbvia, ela tem uma sofisticação na fala, no sentido de não estar diretamente ligada à questão religiosa”, analisa Romero Jacob, ressaltando que “quem é muito óbvio, como Garotinho e Crivella, tem uma rejeição muito alta exatamente pela mistura da religião com política”. Ou, como define, “tem um piso alto, mas um teto baixo”.
Em 2010, Marina tinha a agenda verde na mão, mas agregou pouco ao PV. Os 20 milhões de votos não aumentaram a bancada de deputados federais do PV. “Quando se vê Marina indo buscar assinaturas em cultos evangélicos para viabilizar seu partido, isso significa que aí ela se restringe”, comenta Romero Jacob.
Entre 22% e 40% se declara evangélica no estado de São Paulo, que tem ¼ do eleitorado, o que dá a Marina uma robustez eleitoral, “insuficiente para levá-la para o segundo turno, mas suficiente para construir um segundo turno”.
Os mapas indicam, segundo Romero Jacob, que a votação da Marina em 2010 foi menos dos verdes, dos eleitores insatisfeitos e muito mais dos irmãos, sobretudo no Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. “Mesmo que a Marina não tenha feito campanha voltada para as igrejas, as igrejas fizeram campanha para ela”.

"Para que servem todas as pesquisas de aprovação popular e a fortuna que o governo gasta em propaganda se a rua demonstra que não está aprovando nada, nem acreditando no que a publicidade oficial sobre o Brasil Carinhoso lhe conta?" (Foto: Waldson Costa)
BRASIL NERVOSOJ. R. GUZZO - VEJA
Fica cada dia mais difícil, sinceramente, confiar na palavra “popularidade”. O dicionário não ajuda; o que está escrito lá dentro não combina com o que se vê aqui fora. Os institutos de pesquisa ajudam ainda menos — seus números informam o contrário do que mostram os fatos.
As teses do PT, enfim, não servem para nada. Garantem por exemplo, que a ladroagem, as mentiras e a incompetência sem limites do governo só afetam uma pequena minoria que lê a imprensa livre — a “direita”, os “inconformados” etc.
Quando a ma fica brava, como agora, fingem ignorar o que está na cara de todos: que a ira popular vem da acumulação dos desastres noticiados por essa mesmíssima imprensa. É simples.
A presidente da Republica que continua sendo apresentada como a governante mais popular que o Brasil jamais teve não pode colocar os pés num campo de futebol em Brasília. Ia fazer isso como previa o programa oficial no jogo de abertura da Copa das Confederações no dia 15 de junho.
Desistiu ao ouvir a robusta vaia que o público lhe socou em cima logo ao aparecer no estádio — e teve de ficar trancada no cercadinho das autoridades, seu habitat protegido de sempre.
Para não receber uma vaia ainda pior, também desistiu de fazer o discurso solene escrito para a ocasião. Pergunta: se a presidente Dilma Rousseff não pode aparecer nem falar em público, onde foi parar aquela popularidade toda?
O problema, no caso, é que se tratava de público de verdade — e não desses blocos que o PT monta para fazer o papel de povo, transporta em ônibus fretados com dinheiro público e premia com lanche grátis, em troca de palmas para a presidente. Dilma tentou chegar perto do povo brasileiro que existe na vida real: foi um fiasco, e ela terá de lidar agora com o pânico dos magos da “comunicação” e “imagem” que fabricam diariamente a sua popularidade.
Há alguma coisa muito errada nisso tudo. Para que servem todas as pesquisas de aprovação popular e a fortuna que o governo gasta em propaganda se a rua demonstra que não está aprovando nada, nem acreditando no que a publicidade oficial sobre o Brasil Carinhoso lhe conta? A primeira explicação do Palácio foi uma piada: as vaias foram dadas pela “classe média alta” que estava no estádio no dia do jogo inicial.
Mas exatamente naquela mesma hora, do lado de fora, a polícia estava baixando o sarrafo numa multidão irada que protestava contra os gastos cada vez mais absurdos, a inépcia e a roubalheira frenética nas obras da Copa de 2014 — que o ex-presidente Lula, Dilma e o PT consideram a suprema criação de seus dez anos de governo. A essa altura, no mundo real, a casa já tinha caído.
O Brasil Carinhoso que existe nas fantasias do governo havia cedido lugar, desde a semana anterior ao Brasil Nervoso que existe na realidade — nervoso, enraivecido, violento, destrutivo, irracional e exasperado contra tudo o que acontece de ruim no seu cotidiano. Sua revolta começou contra um aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus de São Paulo, decidido pela estrela ascendente do PT o prefeito Fernando Haddad.
Abriu espaço, como sempre, para marginais — gente que quebra tudo, incendeia e rouba TVs de tela plana de lojas saqueadas. Vazou rapidamente para outras trinta grandes cidades e continuou durante toda a semana passada, já envolvendo um universo de 250.000 pessoas, ou mais, e colocando à luz do sol uma revolta que ia muito além de protestos contra tarifas de transporte e atos criminais.
Seu recado foi claro: o rei está nu. O povo está dizendo que este rei — o governo de farsa montado por Lula há mais de dez anos — rouba, mente, desperdiça, não trabalha, trapaceia, vai para a cama com empreiteiros de obras, entrega-se a escroques, cobra cada vez mais imposto e fornece serviços públicos que são um insulto ao país. Acha que pode comprar o povo com fornos de micro-ondas e outros badulaques de marquetagem.
É covarde e hipócrita: depois de provar por A + B que o aumento das passagens era indispensável, a prefeitura paulistana, apavorada provou por A + B que não era, e cedeu a quem chamava de “baderneiros”. Dilma por sua vez, elogiou a todos, dos manifestantes à polícia, e correu para pedir instruções a Lula — mas não admitiu que seu governo tenha a mais remota culpa por qualquer das desgraças que levaram o povo às ruas.
Espera que a revolta se desfaça sozinha como em geral acontece com movimentos que não têm objetivos claros, liderança e disciplina — e volte à sua sagrada popularidade. Pode ser mais difícil, desta vez.
ONG resgata cem cães caçados em ilha de Marajó
Depois de serem caçados, abandonados e enfrentarem quase duas semanas de fome no arquipélago do Marajó, no Pará, um grupo de 104 cães foi resgatado há cerca de 15 dias e levado às pressas a um abrigo de animais em Belém.
Os cães sobreviveram a uma caçada patrocinada pela Prefeitura de Santa Cruz do Arari, segundo investigação do Ministério Público. O objetivo da medida seria contribuir com a limpeza da cidade.
A prefeitura daria uma recompensa de R$ 5 a cada cachorro que "sumisse". O prêmio por cadelas era R$ 10.
Imagens de dezenas de animais capturados, amarrados e levados à zona rural da cidade ganharam destaque na imprensa local e nacional. O prefeito foi afastado do cargo, a pedido dos promotores.
Dezenas de cães, segundo os moradores, morreram afogados ou de fome. Os 104 sobreviventes, porém, conseguiram refúgio numa área de população ribeirinha e mata cerrada, a 6 km da área urbana.
O resgate chegou duas semanas depois. Com a ajuda de um barco alugado, integrantes de uma ONG encontraram um cenário desolador de cães magricelos e com sinais de maus-tratos.
Na ilha, os animais ganharam um punhado emergencial de ração antes da viagem de 15 horas até a capital, onde foram vacinados, examinados e medicados.
"Os ribeirinhos são pobres e não tinham como alimentá-los. Eles iam todos morrer de fome", diz Raquel Viana, dona do abrigo em Belém.
Dos cães resgatados, um morreu e outros quatro seguem internados em clínicas veterinárias.
Entre os acolhidos, "Vovô" é quem mais precisa de cuidados. Quase cego e sem os dentes, precisa ser alimentado com líquidos diretamente na boca.
"Ele é um vovô, mas, quando pego ele pra dar comida, é o meu bebê", diz a engenheira civil Marilete Sampaio, que há seis anos largou a profissão para dedicar-se ao trabalho com animais.
Antes mantido exclusivamente com recursos próprios, o abrigo tem recebido doações após a repercussão do caso. Uma fabricante doou duas toneladas de ração.
O abrigo também recebeu medicamentos, produtos de limpeza e até jornais velhos, para forrar o local em que os animais estão abrigados.
PORQUINHO
Além dos cães a ONG também resgatou um porco, apelidado de "Ozzy" --referência ao roqueiro Ozzy Osbourne. O suíno também trazia ferimentos nas patas.
"Eu nunca imaginei como seria criar um porquinho, mas ele é tão fofo. É carinhoso, gosta de carinho na barriga. Não tem como não se apaixonar por ele", afirma Raquel, a dona do abrigo.
Ela ainda não sabe se "Ozzy" é macho ou fêmea nem como ele se juntou aos cães resgatados e embarcou.
A Prefeitura de Santa Cruz do Arari confirmou ter estimulado a população a levar os cachorros da zona urbana para a zona rural, mas informou que não pediu para que os animais fossem agredidos ou exterminados.
Animais foram resgatados de barco após passarem 15 dias sem comida
Investigação do Ministério Público revelou que prefeitura pagava R$5 por cachorro que 'sumisse' da cidade
JONES SANTOS - FSPInvestigação do Ministério Público revelou que prefeitura pagava R$5 por cachorro que 'sumisse' da cidade
Depois de serem caçados, abandonados e enfrentarem quase duas semanas de fome no arquipélago do Marajó, no Pará, um grupo de 104 cães foi resgatado há cerca de 15 dias e levado às pressas a um abrigo de animais em Belém.
Os cães sobreviveram a uma caçada patrocinada pela Prefeitura de Santa Cruz do Arari, segundo investigação do Ministério Público. O objetivo da medida seria contribuir com a limpeza da cidade.
A prefeitura daria uma recompensa de R$ 5 a cada cachorro que "sumisse". O prêmio por cadelas era R$ 10.
Imagens de dezenas de animais capturados, amarrados e levados à zona rural da cidade ganharam destaque na imprensa local e nacional. O prefeito foi afastado do cargo, a pedido dos promotores.
Dezenas de cães, segundo os moradores, morreram afogados ou de fome. Os 104 sobreviventes, porém, conseguiram refúgio numa área de população ribeirinha e mata cerrada, a 6 km da área urbana.
O resgate chegou duas semanas depois. Com a ajuda de um barco alugado, integrantes de uma ONG encontraram um cenário desolador de cães magricelos e com sinais de maus-tratos.
Na ilha, os animais ganharam um punhado emergencial de ração antes da viagem de 15 horas até a capital, onde foram vacinados, examinados e medicados.
"Os ribeirinhos são pobres e não tinham como alimentá-los. Eles iam todos morrer de fome", diz Raquel Viana, dona do abrigo em Belém.
Dos cães resgatados, um morreu e outros quatro seguem internados em clínicas veterinárias.
Entre os acolhidos, "Vovô" é quem mais precisa de cuidados. Quase cego e sem os dentes, precisa ser alimentado com líquidos diretamente na boca.
"Ele é um vovô, mas, quando pego ele pra dar comida, é o meu bebê", diz a engenheira civil Marilete Sampaio, que há seis anos largou a profissão para dedicar-se ao trabalho com animais.
Antes mantido exclusivamente com recursos próprios, o abrigo tem recebido doações após a repercussão do caso. Uma fabricante doou duas toneladas de ração.
O abrigo também recebeu medicamentos, produtos de limpeza e até jornais velhos, para forrar o local em que os animais estão abrigados.
PORQUINHO
Além dos cães a ONG também resgatou um porco, apelidado de "Ozzy" --referência ao roqueiro Ozzy Osbourne. O suíno também trazia ferimentos nas patas.
"Eu nunca imaginei como seria criar um porquinho, mas ele é tão fofo. É carinhoso, gosta de carinho na barriga. Não tem como não se apaixonar por ele", afirma Raquel, a dona do abrigo.
Ela ainda não sabe se "Ozzy" é macho ou fêmea nem como ele se juntou aos cães resgatados e embarcou.
A Prefeitura de Santa Cruz do Arari confirmou ter estimulado a população a levar os cachorros da zona urbana para a zona rural, mas informou que não pediu para que os animais fossem agredidos ou exterminados.
Assinar:
Comentários (Atom)